ARTIGOS

 BENDITAS MULHERES! BENDITAS MÃES DE MAIO!
BENDITAS MULHERES! BENDITAS MÃES DE MAIO!
Rose Nogueira

Faz cinco anos e tudo ainda é inacreditável. Em uma semana que começou com o Dia das Mães, 493 pessoas, comprovadamente, foram assassinadas por arma de fogo em São Paulo – uma grande parte delas com os sinais clássicos de execução. Tiros de cima para baixo, nas costas, na nuca, na testa, no peito. Atiraram para matar.
Diante desse número escabroso, só aquelas pessoas muito especiais teriam a força de transformar sua dor em coragem santa: as mães que perderam seus filhos. Tanto que no dia 12, sexta-feira, o grupo Mães de Maio lança o livro Do Luto à Luta no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. Depois farão uma caminhada até a praça da Sé para um culto ecumênico pela memória de todas as vítimas do episódio sem precedentes que já ficou conhecido como Crimes de Maio. Uma das madres da Praça de Mayo de Buenos Aires virá para acompanhá-las, mostrando que a dor é a mesma.
Do total de mortos, 352 eram jovens, de 11 a 29 anos, homens na quase totalidade. Mulheres foram 18, uma delas grávida de nove meses, prestes a dar à luz. A menina, ainda na barriga da mãe, também foi baleada. Um tiro pegou no seu joelhinho. E ela, mesmo dentro do aconchego do ventre da mãe, levou a mãozinha ao joelho, como se sentisse a dor no local. No laudo oficial, a menina morreu por “insuficiência materna”, e não pelos tiros. A mãe não pôde lhe garantir a vida porque morreu na hora, baleada também na cabeça. A menina já tinha nome. Seria Bianca, filha de Ana Paula, que era filha de Vera. E seu pai, que seguia pela calçada ao lado da mãe, também recebeu a carga de balas do mesmo assassino – ou assassinos.
Esse é um dos quase 500 casos daquela semana de cinco anos atrás, e sozinho já seria um escândalo por ultrapassar a barreira do desumano. Aconteceu em São Vicente, na Baixada Santista, onde também morreu Edson Rogério, filho de Débora, que teve o contra-cheque do salário que carregava no bolso manchado de sangue do tiro no peito. Ele abastecia sua moto num posto de gasolina quando os homens vestidos de preto, com máscaras ninja, chegaram e deram cabo de toda vida que houvesse por perto.

A morte por bala de calibre grosso em maio de 2006 encobriu a vida nas periferias e nos bairros mais pobres da capital, mas também de algumas cidades médias e grandes de São Paulo. Citamos dois casos horríveis da Baixada Santista porque lá fatos parecidos voltaram a acontecer no ano passado e agora nos últimos dias.
De comum, e chamou atenção, todos os lugares em que ocorreram os crimes eram pobres e todas as pessoas que morreram eram pobres, a maioria lutando pela sobrevivência. Os agentes do Estado assassinados eram soldados, investigadores de delegacias de bairro, guardas municipais, carcereiros e um bombeiro, servidores que também lutavam para viver. Segundo a polícia, foram 41. Os “outros”, os simples cidadãos que foram mortos apenas pelo fato de cruzarem com assassinos, são mais de 450. Impossível não lembrar que todos, os quase 500, um dia pesaram três quilos, foram abraçados ao nascer e mamaram numa mulher. Todos tinham os direitos garantidos, simplesmente porque um dia foram crianças que fizeram graça, meninos que foram à escola, adolescentes que se apaixonaram, homens e mulheres que talvez sonhassem – e tinham o direito de continuar vivos. Eram seres humanos.
Matou-se em São Paulo naquela semana de 2006 mais do que se mata nas guerras. Na noite de 15 de maio o toque de recolher foi uma realidade. Nunca uma notícia se espalhou tão depressa: “quem estiver na rua à noite corre perigo de vida”, informava o boca-a-boca. Escolas suspenderam as aulas, lojas, oficinas e fábricas dispensaram seus funcionários e São Paulo teve o maior congestionamento do ano às quatro da tarde, um dos poucos horários calmos no trânsito caótico da cidade. No dia seguinte a conta foi alta: a madrugada teve 117 mortos. Quem era o mocinho, quem era o bandido? Que guerra foi essa, onde o que restava de humanidade se perdia no medo? A cada dia, as manchetes dos jornais informavam com a naturalidade de quem já se acostumava à barbárie: “Polícia mata mais 90 suspeitos”... como se matar suspeitos fosse normal e permitido.
A perplexidade ainda permanece. A única palavra possível para tal perda de controle do Estado é justiça. Que seja federal, porque não podemos acreditar como de bom senso o “arquive-se”, que tem se repetido. O caminho racional é a federalização dos crimes de tortura, execução sumária e desaparecimento forçado, que continuam a acontecer em grandes proporções. É o caso da Baixada Santista.
No ano passado, em apenas alguns dias do mês de abril, quando também houve o “toque de recolher”, 26 pessoas foram executadas em Santos, Guarujá, São Vicente, Cubatão e Praia Grande. A matança só parou quando uma autoridade diplomática dos Estados Unidos aconselhou aos cidadãos de seu país que não fizessem turismo por lá, pois nada poderia garantir suas vidas. Quase vinte policiais militares foram presos, suspeitos de participação em grupos de execução, mas foram soltos em seguida. Não sabemos como andam os inquéritos.
Neste ano, novamente em abril, motos com homens vestidos de preto e máscara ninja passam atirando, ferindo e matando. Em Santos, na semana passada, a câmera de segurança de um prédio flagrou uma execução, com o motorista de um carro chamando dois homens de meia-idade, como se pedisse uma informação. Ao se dirigir ao motorista os dois foram baleados no meio da rua. Um morreu na hora, o outro ficou gravemente ferido. As imagens foram parar no noticiário das TVs pela manhã.
O que isso representa, além da perversidade? Continuamos indignados. É que somos da espécie humana e diante da impunidade que gera impunidade só podemos ter uma certeza: ficamos muito menores diante de cada tragédia dessas. Quem nos dá um pouco de grandeza ainda são as Mães de Maio. Benditas mulheres! Benditas mães!
Rose Nogueira é jornalista e presidente do Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo

 FEZ-SE VINGANÇA, NÃO JUSTIÇA
FEZ-SE VINGANÇA, NÃO JUSTIÇA
Leonardo Boff
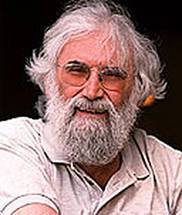
Alguém precisa ser inimigo de si mesmo e contrário aos valores humanitários mínimos se aprovasse o nefasto crime do terrorismo da Al Qaeda do 11 de novembro de 2001 em Nova Iorque. Mas, é por todos os títulos inaceitável que um Estado, militarmente o mais poderoso do mundo, para responder ao terrorismo se tenha transformado ele mesmo num Estado terrorista. Foi o que fez Bush, limitando a democracia e suspendendo a vigência incondicional de alguns direitos, que eram apanágio do país. Fez mais, conduziu duas guerras, contra o Afeganistão e contra o Irã, onde devastou uma das culturas mais antigas da humanidade nas qual foram mortos mais de cem mil pessoas e mais de um milhão de deslocados.
Cabe renovar a pergunta que quase a ninguém interessa colocar: por que se produziram tais atos terroristas? O bispo Robert Bowman de Melbourne Beach da Flórida que fora anteriormente piloto de caças militares durante a guerra do Vietnã respondeu, claramente, no National Catholic Reporter, numa carta aberta ao presidente: ”Somos alvo de terroristas porque, em boa parte no mundo, nosso Governo defende a ditadura, a escravidão e a exploração humana. Somos alvos de terroristas porque nos odeiam. E nos odeiam porque nosso Governo faz coisas odiosas”.
Não disse outra coisa Richard Clarke, responsável contra o terrorismo da Casa Branca numa entrevista a Jorge Pontual emitida pela Globonews de 28/02/2010 e repetida no dia 03/05/2011. Havia advertido à CIA e ao Presidente Bush que um ataque da Al Qaeda era iminente em Nova York. Não lhe deram ouvidos. Logo em seguida ocorreu, o que o encheu de raiva. Essa raiva aumentou contra o Governo quando viu que com mentiras e falsidades Bush, por pura vontade imperial de manter a hegemonia mundial, decretou uma guerra contra o Iraque que não tinha conexão nenhuma com o 11 de setembro. A raiva chegou a um ponto que por saúde e decência se demitiu do cargo.
Mais contundente foi Chalmers Johnson, um dos principais analistas da CIA também numa entrevista ao mesmo jornalista no dia 2 de maio do corrente ano na Globonews. Conheceu por dentro os malefícios que as mais de 800 bases militares norte-americanas produzem, espalhadas pelo mundo todo, pois evocam raiva e revolta nas populações, caldo para o terrorismo. Cita o livro de Eduardo Galeano “As veias abertas da A.Latina” para ilustrar as barbaridades que os órgãos de Inteligência norte-americanos por aqui fizeram. Denuncia o caráter imperial dos Governos, fundado no uso da inteligiência que recomenda golpes de Estado, organiza assassinato de líderes e ensina a torturar. Em protesto, se demitiu e foi ser professor de história na Universidade da Califórnia. Escreveu três tomos “Blowback” (retaliação) onde previa, por poucos meses de antecedência, as retaliações contra a prepotência norte-americana no mundo. Foi tido como o profeta de 11 de setembro. Este é o pano de fundo para entendermos a atual situação que culminou com a execução criminosa de Osama Bin Laden.
Os órgãos de inteligência norte-americanos são uns fracassados. Por dez anos vasculharam o mundo para caçar Bin Laden. Nada conseguiram. Só usando um método imoral, a tortura de um mensageiro de Bin Laden, conseguiram chegar ao su esconderijo. Portanto, não tiveram mérito próprio nenhum.
Tudo nessa caçada está sob o signo da imoralidade, da vergonha e do crime. Primeiramente, o Presidente Barak Obama, como se fosse um “deus” determinou a execução/matança de Bin Laden. Isso vai contra o princípio ético universal de “não matar” e dos acordos internacionais que prescrevem a prisão, o julgamento e a punição do acusado. Assim se fez com Hussein do Iraque, com os criminosos nazistas em Nurenberg, com Eichmann em Israel e com outros acusados. Com Bin Laden se preferiu a execução intencionada, crime pelo qual Barak Obama deverá um dia responder. Depois se invadiu território do Paquistão, sem qualquer aviso prévio da operação. Em seguida, se sequestrou o cadáver e o lançaram ao mar, crime contra a piedade familiar, direito que cada família tem de enterrar seus mortos, criminosos ou não, pois por piores que sejam, nunca deixam de ser humanos.
Não se fez justiça. Praticou-se a vingança, sempre condenável. “Minha é a vingança” diz o Deus das escrituras das três religiões abraâmicas. Agora estaremos sob o poder de um Imperador sobre quem pesa a acusação de assassinato. E a necrofilia das multidões nos diminui e nos envergonha a todos.
Leonardo Boff é teólogo e filósofo, autor de Fundamentalismo, terrorismo, religião e paz, Vozes, 2009

 Direitos humanos e o acesso às informações arquivísticas: uma polêmica em torno do Projeto Memórias Reveladas .
Direitos humanos e o acesso às informações arquivísticas: uma polêmica em torno do Projeto Memórias Reveladas .
Jessie Jane Vieira de Souza

O problema do acesso às informações arquivísticas necessariamente nos propõe uma reflexão histórica sobre as reações ao Estado Absolutista nos marcos das revoluções burguesas, isto é, da revolução inglesa do século XVII e da revolução francesa do século XVIII. As teorias sobre a formação do Estado liberal e democrático, construídas a partir desses marcos, foram elaboradas na tentativa de impor limites ao poder do Estado e tal empreitada, intelectual e política, surge em clara oposição ao poder absoluto do soberano cuja vontade era, segundo Hobbes, a única fonte do direito. A pergunta que então se fazia era, se era possível limitar tal poder.
A partir desta questão foi construído o arcabouço teórico do Estado democrático e dele emergiram duas outras perguntas que são essências para o problema que pretendemos abordar. Uma diz respeito ao aparelho administrativo e burocrático deste Estado e, outra, da transparência das suas ações. Tais questões dizem respeito ao estabelecimento da participação dos cidadãos no controle e na limitação do poder exercido pelos seus dirigentes e pelos aparelhos burocráticos como questões fundamentais para o exercício da cidadania.
No século XVIII o termo burocracia foi empregado pela primeira vez para designar o poder do corpo administrativo composto pelos funcionários que serviam à monarquia absoluta. Surge, então, como sinônimo de sujeição, o burocrata como sendo aquele que detém as normas e regulamentos que sufocam as iniciativas com a sua ineficiência. Considerado, portanto, como algo naturalmente negativo na medida em que usado para prejudicar o exercício democrático.
No século XIX, a tradição técnico-jurídico de origem germânica apresentou outra concepção acerca da burocracia. Tal concepção, eivada de tecnicismo, conceitua a burocracia como sendo uma teoria e uma práxis da administração baseada em normas que definem funções, esferas de competência e critérios de carreiras no serviço público.
Mas, para a discussão que nos interessa, foi Marx Weber quem melhor adequou tal problema à analise dos arquivos públicos vistos por ele como produtos de atividades administrativas e, como tal, unidade do aparelho do Estado. O autor, ainda que utilizando a tradição do pensamento alemão, coloca a burocracia em uma dimensão diferenciada na medida em que a considera como sendo uma forma legitima de domínio e não apenas uma instancia administrativa. A este domínio Weber chamou de legal-burocrático porque legitimado pela existência de normas formais, abstratas e exercidas por uma rede burocrática que tem hierarquia, competências e regras.
No entanto, estamos falando em administração pública, o que nos obriga a refletir acerca do que vem a ser público e privado, conceitos que se originaram em períodos históricos diferentes e que têm, no ocidente, relações dicotômicas. Na verdade esta é uma discussão que vem desde a antiguidade, mas, nos interessa abordá-la somente no mundo contemporâneo, observando particularmente as repercussões desta polaridade na pratica arquivística.
Interessa-nos, sobretudo, o binômio que se forma a partir do século XVIII, quando começa a ser forjada a idéia de espaço público, separado do privado, como conseqüência do Estado Burguês em formação. Todavia, isto não significa que também esta dicotomia tenha surgido somente a partir do Século das Luzes porque a idéia tem sua origem na Polis grega e pode ser pensada como sendo mais uma apropriação que os modernos fizeram da tradição clássica.
Das relações entre o que é público e privado emergem duas concepções básicas, isto é, público significando aquilo que é comum a todos, aquilo que afeta a todos; e privado se referindo a um individuo, afetando a interesses particulares, pessoais ou familiares. Interesse público como sendo aquilo que é acessível a todos, que é manifesto. Em oposição, o privado como sendo que é reservado a determinados círculos de pessoas e, no limite, o que é secreto.
E nessa dimensão filosófica podemos introduzir a analise de alguns aspectos históricos e conceituais sobre os chamados Direitos Humanos.
Os juristas de origem latina fazem uma distinção básica entre direitos naturais e direitos positivos e, os de origem anglo-saxônica, distinguem os direitos morais dos direitos legais. Todavia, apesar de tais distinções, a palavra direito, como direito subjetivo, faz referência a um sistema normativo, seja ele chamado de natural ou moral, de jurídico ou positivo.
Apesar destas controvérsias, os direitos do homem podem ser analisados sob duas perspectivas:
1 – Historicamente os direitos surgem a partir do século XVII e em certas circunstâncias. Nascem como resultante das lutas em defesa de novas liberdades e contra velhos poderes. São, portanto, conquistados gradualmente. Surgem no Estado moderno como fruto da relação política entre o Estado e o cidadão ou entre o soberano e o súdito. Surgem e se firmam como direitos do individuo em face do poder do soberano no Estado absolutista e representam a emancipação do poder político das amarras tradicionais do poder religioso por meio da liberdade religiosa e da emancipação econômica dos indivíduos do jugo do poder político mediante a liberdade de iniciativa econômica.
Tais direitos, chamados de direitos de primeira geração, estão contidos na Declaração da Virginia, em 1776, e na Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos Cidadãos, de 1789, e são considerados com sendo inerentes ao individuo e, como tal, precedem ao contrato social. São os chamados direitos individuais que podem ser exercidos coletivamente no momento em que um grupo de pessoas concorda em convergir seus direitos individuais em uma mesma direção. Por exemplo, quando um grupo de pessoas se associa em um partido ou sindicato. Neste caso exercem o direito de associação. Este direito, no século XIX, foi incorporado à doutrina liberal e, com isto, se reconheceu um aspecto fundamental para a prática da democracia.
Os direitos de segunda geração, já reconhecidos na constituição francesa de 1791, dizem respeito à participação no bem estar social e estão previstos no ‘estado de bem estar social’ e são aqueles direitos de credito individual em relação à coletividade e se referem à saúde, ao trabalho, à educação e têm o Estado como sujeito passivo porque foi na interação entre governantes e governados que a coletividade assumiu a responsabilidade de atendê-los. No entanto, o titular destes direitos continua sendo o individuo e. por isto, são considerados direitos de primeira geração.
Na realidade existe uma complementaridade entre os direitos considerados de primeira e de segunda geração, já que estes últimos asseguram as condições para o exercício dos primeiros.
Na atualidade já se fala em direitos de terceira e quarta geração e se relacionam aos direitos de grupos humanos como a família, a nação, as coletividades regionais as etnias e à própria humanidade. É o direito a paz, ao desenvolvimento econômico e ao meio ambiente.
Desta condição histórica podemos inferir que o elenco de direitos continua a se modificar de acordo com as carências e dos interesses das classes sociais. São, portanto, produtos das demandas sociais disputadas e conquistadas pelas sociedades.
2 – Isto significa que, além da sua historicidade, os direitos não são homogêneos, isto é, porque entre os direitos compreendidos nas declarações e nas leis há pretensões muito diversas entre si e até mesmo incompatíveis. Podemos então dizer que em muitas circunstancias existem competições entre os direitos, o que pode implicar em opções.
Antecipado na declaração francesa de 1789 e presente na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, o direito à informação tem sido considerado por alguns juristas como sendo um direito de primeira geração.
A declaração francesa afirmava, no seu artigo 10, a liberdade na comunicação de idéias e opiniões e, no artigo 11, declarava que este era dos direitos mais preciosos do homem. Na Declaração Universal, de 1948, o direito à informação, contemplada no artigo 9, afirma que todo individuo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser reprimido pelas suas opiniões e de procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de expressão.
Em 1973 as organizações sindicais francesas foram além ao proporem as bases para uma carta do direito à informação. Neste documento afirmavam que a declaração universal terminou por gerar alguns obstáculos ao pleno exercício do direito à informação já que somente a liberdade de imprensa não garante, na sociedade moderna, informação aos cidadãos.
Alguns autores sugerem que modernamente o direito à informação seja considerado como um direito autônomo e identificam o direito a ser informado como algo que está presente até mesmo na Encíclica Pacem in Terris, de 1963, escrita sob o pontificado de João XXIII. Nesta encíclica o papa estabelece a diferença e a complementaridade entre o direito à informação, conforme a Declaração de 1948, e o direito a ser informado ao declarar que todo homem tem direito à informação verídica sobre os acontecimentos públicos. O papa Paulo VI, ao participar de um seminário organizado pela ONU sobre o direito à informação, afirmava que o direito a informação é um direito universal, inviolável e inalterável do homem moderno, posto que fundado na natureza humana.
Outro aspecto deste mesmo problema é o conceito de mentira e verdade. Todavia, aqui não se trata de uma discussão filosófica, mas de tratá-la na sua relação com os preceitos da publicidade e do direito à informação. Aquilo que Celso Lafer identifica como sendo “o poder oculto, que se esconde nos segredos de Estado, e o do poder que oculta, valendo-se da mentira.” Para a problemática que estamos tratando, o primeiro aspecto é fundamental ao considerarmos a oposição que se estabelece entre o direito à informação, o principio da publicidade e o segredo entendido como ocultamento do que positivamente se conhece.
Neste caso não se trata simplesmente de uma oposição entre verdade e mentira mas o segredo, aquilo que não se torna público ainda que todos saibam o que ocorreu. Ainda que as informações estejam eivadas de ideologia ou até mesmo de propaganda as lacunas não podem transformar uma informação na ausência dela mesma. Estas lacunas só podem suscitar interrogações que demandem novas informações. O repúdio ao segredo deve ser fundamental para o exercício da cidadania.
Diante desta questão cabe perguntar se existe alguma circunstância em que o uso do segredo seja legitimo. Mas para que possamos responder a esta pergunta faz-se necessário definirmos as características da informação arquivística, das instituições arquivísticas e proceder a analise dos aspectos jurídicos e práticos do acesso público aos documentos.
Em primeiro lugar, cabe uma definição sobre o que vem a ser um arquivo. Segundo o Conselho Internacional de Arquivos o arquivo é um conjunto de documentos, quaisquer que sejam as suas datas, suas formas ou seus suportes materiais, produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, no desempenho de suas atividades.
Mesmo com algumas nuances, esta tem sido considerada a síntese do conceito de arquivos. Desde o século XIX, as características básicas dos arquivos mantêm-se inalteradas e dizem respeito a um conjunto orgânico de documentos produzidos por uma determinada atividade jurídico-administrativa que possuam um caráter testemunhal.
Portanto, existem dois níveis de informações contidas nos arquivos: aquela presente no documento isoladamente e aquela expressa no conjunto dos documentos e que muito revelam sobre a instituição que produziu aquele fundo documental. Por exemplo, os arquivos dos Departamentos de Ordem Político e Social revelam como cada brasileiro teve sua privacidade invadida e, ao mesmo tempo, revela como o Estado brasileiro agia sobre o conjunto da sociedade.
Nesta perspectiva os arquivos são instrumentos e, ao mesmo tempo, subprodutos das atividades institucionais e pessoais. Portanto, os documentos arquivísticos são fontes essenciais de informação e prova. E por isso têm que ser produzidos, recolhidos, tratados, preservados e publicizados. O acesso é a garantia fundamental para que o conjunto da sociedade e os indivíduos possam exercer direitos.
Nesse aspecto devemos assinalar que os registros documentais arquivisticos devem ter autenticidade, organicidade, inter-relacionamento, unicidade. Obedecendo a estas características, os registros arquivísiticos além das necessidades do exercício do direito e da escrita da história, também servem para dar transparência às ações do Estado. Dizem respeito ao principio da responsabilidade em relação ao presente e ao passado e, do ponto de vista governamental, diz respeito às necessidades políticas e administrativas. No entanto, é importante ressaltar que os pesquisadores devem submeter tais documentos a uma rigorosa critica interna, já que a sua veracidade depende das circunstâncias em que foram produzidos e preservados.
Historicamente o acesso aos documentos arquivísticos se inscreve no contexto ao qual já nos referimos e está essencialmente relacionado aos direitos humanos em geral no qual se incorporou o direito à informação.
Todavia, este acesso só se tornou uma questão após a Revolução Francesa e mais especificamente depois da criação do Arquivo Nacional Francês e da proclamação do direito público ao acesso às informações contidas naquele arquivo. A abertura dos arquivos franceses ao público, determinada pela Lei Messidor, do Ano II, decreto de 1974, representou um primeiro passo no sentido de se considerar a informação como um direito civil.
Ao longo do século XIX, com a consolidação dos ideais revolucionários e de uma visão positiva da história, a demanda pelo acesso aos arquivos contribuíram para alargar a proclamação original. Os historiadores românticos e positivistas acreditavam que encontrariam nos arquivos a verdade sobre o passado. Esta crença atribuía aos Estados Nacionais o dever de manter estes arquivos e dar acessibilidade a eles. No entanto, este acesso era franqueado aos historiadores do Estado, ou que buscavam construir a idéia de nação, ou àqueles que estavam incorporados ao aparato estatal. Os arquivos nacionais, como próprio nome indica, eram espaços para guardar a memória do Estado.
Durante a primeira metade do século XX, imperou a mesma visão e foi somente após a segunda grande guerra que ocorreu uma mudança significativa no conceito de acesso aos documentos públicos. Tal mudança ocorre na Inglaterra e na França por conta das demandas por direitos resultantes do holocausto. E a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, transformou o acesso em direito democrático de todos os cidadãos e não mais uma reivindicação dos historiadores.
Lentamente os paises ocidentais foram reconhecendo e incorporando este direito. Em 1951, a Finlândia estipulou que, em principio, qualquer documento produzido pela administração pública deveria ser acessível a todo cidadão. Em 1966 os Estados Unidos promulgaram o Freedom of Information Act, que se constituiu em um novo marco na conquista do pleno direito ao acesso aos documentos arquivísticos. A partir desta lei, vários paises têm adotado o mesmo principio, isto é, definem os documentos que devem ser exibidos ao cidadão e aqueles que cuidadosamente devem ser excluídos deste acesso. Criando, portanto, regras claras sobre os procedimentos no que diz respeito ao acesso e dando publicidade àquilo que deve ser excluído deste direito. Tais procedimentos devem ser baseados em fundamentos legais que definam os prazos para que tais documentos tenham seu tempo de sigilo desclassificado. Tais documentos dizem respeito à segurança nacional ou a ordem pública, à vida privada ou documentos relativos a segredos de justiça. Todavia, faz-se necessário definir o que vem a ser cada um destes itens e como os mesmo se relacionam com os interesses públicos.
No Brasil ainda estamos longe dos marcos inaugurados pelo Freedom of Information Act e de um consenso do que vem a ser acesso. A nossa primeira lei de arquivos data de 1991 quando então se constituiu um corpo normativo em torno do qual os arquivos públicos passaram se organizar e disponibilizar os seus acervos ao publico.
Estavam dados os instrumentos legais a partir dos quais os documentos públicos seriam classificados ou desclassificados. No entanto, com o decreto n., que ampliou os prazos para desclassificação, criou- se uma grande confusão em torno da questão já que imediatamente vários arquivos passaram a vedar acesso a fundos documentais que há anos haviam sido franqueados ao público. Falo especificamente dos acervos relativos às policias políticas que nos anos de 1990 foram transferidos para os arquivos estaduais e que, desde o citado decreto, passaram novamente a ser alvo da cultura do segredo. Em que pese o fato do acesso a estes acervos sempre tenha sido diferente em cada instituição arquivísitca, esperava-se que no âmbito do projeto Memórias Reveladas fossem adotados critérios uniformes.
Tais acervos, alguns produzidos há 70 anos e outros há mais de quarenta anos, não estão classificados e podem ser objeto de uma ação, por parte da Presidência da República, de uma portaria que garanta segurança jurídica aos operadores das instituições arquivísticas. Com esta portaria o Arquivo Nacional pode, utilizando experiências já consagradas, construir procedimentos burocráticos para que todos os acervos que se encontram sob a rubrica do projeto Memórias Reveladas possam ser consultados mediante um termo de responsabilidade a ser assinado pelo cidadão, seja ele pesquisador, jornalistas ou aquele que esta em busca de direitos.
Para o amplo acesso a esta documentação não é necessário que o Congresso Nacional vote nenhuma lei especifica. Com tal afirmativa não estou querendo dizer que o Brasil não necessita de uma legislação de acesso semelhante ao Freedom of Information Act, algo que garanta o direito pleno e universal à informação produzida pelo Estado. No Congresso Nacional tramitam vários projetos que tratam desta questão e todos podem ser acessados na página do Conselho Nacional de Arquivos.
No entanto, não é salutar confundir a reivindicação por acesso às informações contidas nos acervos documentais produzidas durante o regime militar, e que já se encontram desclassificas e custodiadas pelos Arquivos, com o direito ao acesso às informações contidas nos arquivos correntes ou intermediários. O direito ao acesso a estes documentos também deve ser garantido dentro de regras que distingam informações relativas à segurança nacional ou ao direito à imagem individual.
A atual polêmica, gerada em torno do Projeto Memória Reveladas, centra-se nestas questões. De um lado, aqueles que entendem que o acesso às informações contidas na documentação produzida pela policias políticas já foi desclassificada e, portanto, deve ser acessível à cidadania. Para estes, os acervos que se encontram no âmbito do Projeto Memória Reveladas devem adotar um mesmo critério de acesso, isto é, que seja elaborado um termo de responsabilidade no qual todo cidadão que queira acessá-los se comprometa a não utilizar as informações ali contidas para denegrir a imagem de pessoas sob pena de responderam judicialmente por tal ato. Este procedimento há anos tem sido utilizado pelo Arquivo Publico do Estado de São Paulo e nunca a instituição não foi acionada judicialmente por qualquer cidadão.
Todavia, o mais importante é a compreensão de que toda esta documentação foi, em grande parte, produzida sob tortura, por atividades policiais ilegais e que não podem ser tomadas como verdade. Na realidade a critica interna a todo e qualquer documento deve ser observada e é fundamental que o cidadão observe que todas as informações arquivísticas devem ser cruzadas com outras fontes para que, só então, possa ser considerada como sendo a aproximação possível da verdade histórica.
Todavia, os operadores dos arquivos, os burocratas tratados na dimensão webberiana, se sentem ameaçados na sua atividade porque entendem que esta documentação contém verdades que devem ser mantidas sob sigilo. Acreditam que estes fundos documentais trazem informações que podem macular a imagem de pessoas ou podem revelar segredos que, se expostos, podem gerar processos na justiça contra eles, os funcionários dos arquivos. Para estes profissionais enquanto o Congresso Nacional não votar uma ampla lei de acesso esta documentação só pode ser acessada por aqueles que comprovaram titularidade. No entanto, é de domínio público que, em muitos casos, o acesso tem sido franqueado àquelas, pessoas jurídicas ou físicas, que detenham capital social suficiente para demandarem direitos patrimoniais.
É a nossa tradição normativa que sempre clama por textos legais. E importante que saibamos que no Brasil os impedimentos ao acesso não são exclusivamente de ordem legal. Outros obstáculos se apresentam e estão basicamente referidos a interesses que por vezes estão nas sombras e o segredo pode ser entendido como ocultamento do que positivamente se conhece. É o caso da reiterada negativa das Forças Armadas em entregar à cidadania os documentos produzidos ao longo da sua historia e, em particular, durante o período ditatorial. Trata-se de ocultar o que se sabe, mas ainda não se conhece na sua plenitude. E isto é fundamental para que possamos refletir sobre o nosso futuro.
Porque a documentação produzida nos porões da ditadura militar se encontra ‘desaparecida’? Sabemos que ela pode ser acessada nos sites dos sobreviventes ou aderentes dos perpretadores dos direitos humanos daquele período. Eles são custodiadores desta documentação? Não há nenhuma censura no seu uso por nos sites dos sobreviventes do regime, estes a divulgam como sendo a verdade histórica do nosso país.
Penso que a reflexão acerca do acesso reflete o nosso compromisso com o alargamento da democracia e que, por isso, é tão difícil a sua compreensão. Não se trata de um problema arquivístico, como pensam alguns, mas de uma alguma coisa que tem a ver com os direitos fundamentais e, como tal, garantida pela constituição de 1988.
Jessie Jane Vieira de Sousa
Professora da UFRJ
- Esta reflexão baseia-se nos textos produzidos pela professora-doutora Maria Odila.
-Lafer, Celso, 1991, p.34-35.


 TODOS TEMOS QUE LEMBRAR
TODOS TEMOS QUE LEMBRAR

O jornalista Luiz Cláudio Cunha,
defensor dos direitos humanos,recebendo o título de Notório Saber: "Fico irritado com o discurso de que buscar a verdade é revanchismo"
Luiz Cláudio Cunha
O jornalismo é a atividade humana que depende essencialmente da pergunta, não da resposta. O bom jornalismo se faz e se constrói com boas perguntas. O jornalismo de excelência se faz com excelentes perguntas.
A pergunta desafia, provoca, instiga, ilumina a inteligência, alimenta o pensamento. Ao longo de milênios, o homem evoluiu seguindo a linha tortuosa de suas dúvidas, das perguntas que produziam respostas, das respostas insatisfatórias que geravam novas questões, que provocavam mais incertezas, mais perguntas.
Perguntando, o homem saiu da caverna, cresceu, evoluiu e se definiu como ser pensante. O homem se agrupou em tribos, criou hábitos, estabeleceu regras de convívio, preservou a espécie, expandiu habilidades, depurou a fala, criou a escrita, disseminou experiências, inventou ferramentas, desenvolveu recursos, ganhou qualidade de vida, garantiu o alimento para o corpo e para o espírito. Um processo civilizatório irrefreável sempre escoltado por perguntas, outras perguntas, mais perguntas.
Este nobre recinto, a universidade, é o santuário desta saudável circunstância humana: a busca incessante pelo conhecimento, pela informação, pelo saber. O ambiente universitário resume nos últimos dez séculos, desde a pioneira escola italiana de Bolonha, o ofício incessante do cérebro humano iluminado por sua ancestral e redentora curiosidade. Aqui, como no jornalismo, cultiva-se o princípio desafiador do ceticismo e se estimula a dúvida sistemática que realimenta o conhecimento. Posso dizer, portanto, que me sinto em casa.
Este é o lugar, este é o momento para lembrar que aqui -- na universidade -- se faz o bom combate da dúvida, da luz e da ciência contra as certezas, as trevas e as crendices das religiões que tentam submeter o pensamento criador pelo conformismo da fé ou pelo fanatismo destruidor dos sectários. A ameaça se faz maior quando o Estado laico assiste, inerte, a invasão da mídia eletrônica por instituições religiosas que compram espaços e vendem milagres em rádio e TV, maldizendo regras da concessão pública de meios de comunicação que deveriam estar imunes a credos e a pregadores de telemarketing.
Sem maiores perguntas, o Brasil e suas instâncias do poder temporal assistem de joelhos ao choque de credos numa área de interesse direto do jornalismo e do distinto público: a mídia eletrônica. A igreja católica agrupa mais de 200 rádios e quase 50 emissoras de TV, contra 80 rádios e quase 280 emissoras de oito braços do ramo evangélico. A postura mais agressiva dos pastores acua padres e fiéis da maior nação católica do mundo. Entre 1940 e 2000, os católicos caíram de 95,2% para 73,8% entre os brasileiros, enquanto os evangélicos saltaram de 2,6% para 15,4%. A explosão de 50% apenas na última década coincide com a compra da Rede Record em 1989 pela Igreja Universal.
A overdose de pregadores que já ocupam as manhãs e o horário nobre das TVs abertas deve piorar ainda mais: os quatro maiores grupos evangélicos disputam agora o horário da madrugada em rede nacional do Grupo SBT. O combalido Sílvio Santos topa tudo pelo dinheiro farto dos pastores, que negociam o aluguel mensal da telinha por R$ 20 milhões. Os usos e abusos dessa invasão nada silente e sempre sonante despertam uma pergunta no repórter mais crédulo: até onde isso vai?
Cinco séculos antes de Cristo, a dúvida sobrevoou a cabeça de um general ateniense: por que os sobreviventes de uma epidemia não sucumbiam aos surtos posteriores da doença? Ele não sabia, mas percebeu ali os fundamentos do que a ciência mais tarde reconheceria como o sistema imunológico do organismo. O conflito de 27 anos entre Atenas e Esparta acabou e o general, que também se curou da praga do tifo, teve força e talento para escrever oito volumes sobre a Guerra do Peloponeso, o clássico de Tucídides que é tido como o primeiro trabalho acadêmico em História. Ao contrário de Heródoto, seu ilustre predecessor, Tucídides registrava a história como produto das escolhas e das ações dos seres humanos, não como resultado da ira dos deuses. Desprezando lendas, superstições e relatos de segunda mão, Tucídides preferia ouvir testemunhas oculares e entrevistar participantes dos eventos, desprezando a suposta intervenção divina nos assuntos humanos.
Com o faro de jornalista e o rigor de historiador, Tucídides eternizou a 'Oração Fúnebre' de Péricles, o maior dos gigantes da Era de Ouro de Atenas, na fala onde o estadista exalta os mortos e defende a democracia: "Toda a Terra é o sepulcro dos homens famosos. Eles são honrados não só por colunas e inscrições em sua própria terra, mas também em terras estrangeiras por monumentos esculpidos não em pedra, mas nos corações e mentes dos homens", exaltou Péricles.
Assim, Tucídides pode ser considerado de fato o primeiro repórter da história, mesclando nele as virtudes e os atributos que a academia identifica no profissional da imprensa: o historiador do presente, o repórter da atualidade que, pelo conhecimento acumulado, acaba de fato registrando a história do passado que vai prevalecer no futuro. Como fez o repórter Tucídides, que transpôs a crônica contingente de seu tempo para a lembrança imanente de todas as gerações.
Senhoras e Senhores,
A memória da humanidade é um patrimônio de todos e de cada um de nós. Nem sempre sabemos, mas todos lembramos. Todos precisamos lembrar. O jornalista, como o historiador, além de lembrar, tem o dever de contar.
Minha geração dos anos 1950 é marcada por uma tragédia: a ditadura mais longa da história brasileira.
Eu era uma criança de 12 anos quando irrompeu o golpe de março de 1964. Mas, como as crianças da escola de Realengo, já tinha a idade suficiente para reconhecer a violência, para sofrer o trauma, para sentir o medo. Os efeitos do longo pesadelo de 21 anos se projetaram no calendário. Meu primeiro voto para presidente da República só aconteceu quando tinha 38 anos. Cassaram nossa cidadania, limitaram nossa liberdade, calaram nossos amigos, exilaram nossos líderes, machucaram nosso povo.
Atacaram com violência maior o que mais assusta os tiranos: a universidade, o santuário do conhecimento, a trincheira do livre-pensamento, a sede da consciência crítica. Profanaram o espaço desta universidade, a Universidade de Brasília, a academia que estava no coração da nova ordem sem coração, o regime que combatia a força das ideias pela ideia da força armada, desalmada, desatinada.
Um regime que expurgou da UnB seus dois primeiros reitores, nomes primeiros da educação e do compromisso ético com a escola e com a liberdade do pensamento: Darcy Ribeiro, criador e fundador da UnB, e Anísio Teixeira, lançador do movimento da 'Escola Nova' – uma escola que enfatizava o desenvolvimento do intelecto e a capacidade de julgamento. Juntos, Darcy e Anísio assentaram os pilares desta universidade. Anísio inventou na Liberdade, o bairro mais populoso e pobre de Salvador nos anos 1940, a 'Escola Parque', que tinha padaria, um jornal diário e uma rádio comunitária por alto-falante, com médico e dentista e turno integral para as crianças. O modelo revolucionário inspirou Darcy a criar os CIEPs anos depois, no Rio de Janeiro. Anísio também ajudou a fundar a SBPC e a CAPES e dirigiu o INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, onde defendia o fim do ensino religioso obrigatório nas escolas.
A nova ordem que trazia a desordem institucional afastou ambos, Darcy e Anísio, da UnB, de Brasília, das escolas, dos jovens, do país. Em 12 de março de 1971, auge da violência do mandato do notório general Médici, Anísio desapareceu no Rio, depois de visitar o amigo Aurélio Buarque de Holanda. Os militares disseram que ele estava detido, mas não informaram o seu paradeiro. Dois dias depois, seu corpo foi encontrado, sem sinais de queda nem hematomas, no fundo do poço do elevador do prédio de Aurélio, na praia de Botafogo. Causa da morte: 'acidente'. Aqueles eram tempos estranhos, muito estranhos, quando nem os acidentes deixavam rastro.
Pensadores e mestres como Darcy e Anísio resumem bem a história do país e da UnB. E nenhum estudante simboliza melhor esta universidade do que o primeiro lugar em Geologia do ano de 1965, um jovem goiano de 18 anos chamado Honestino Guimarães. É um dos 144 desaparecidos políticos do país. Presidente da Federação dos Estudantes Universitários de Brasília, foi preso pelo Exército e expulso da universidade por reagir à invasão do campus da UnB em 1968. Caiu na clandestinidade com o AI-5, chegou à presidência nacional da UNE e foi preso em outubro de 1973.
A jornalista brasiliense Taís Morais fez as perguntas certas e, no seu livro Sem Vestígios (Prêmio Jabuti de 2006), descobriu o macabro trajeto final de Honestino, percorrendo todo o alfabeto de siglas letais da repressão brasileira: detido no Rio de Janeiro pelo CENIMAR (Centro de Informações da Marinha), trazido a Brasília pelo CIE (Centro de Informações do Exército), torturado durante cinco meses no PIC (Pelotão de Investigações Criminais, no subsolo do prédio do Comando do Exército, na Esplanada dos Ministérios) e levado em fevereiro de 1974 a Marabá num jatinho fretado da Líder Táxi Aéreo por quatro agentes do CIE liderados por um certo major-aviador Jonas, do CISA (Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica).
Lá, no sul do Pará, Honestino foi executado e enterrado na selva pelas tropas que combatiam a guerrilha do Araguaia. Honestino desapareceu aos 26 anos, mas o hoje coronel-aviador da reserva (R-1), com nome, sobrenome e endereço conhecido, circula sem chamar a atenção por Brasília, sem que nenhum jornalista se aproxime dele para fazer uma simples e básica pergunta: − Coronel Jonas, o que aconteceu com Honestino?
Juntos, Darcy e Anísio, as duas referências maiores da UnB, não permaneceram mais do que 25 meses à frente da universidade. O mais longevo reitor em Brasília resistiu no cargo 106 meses, quase nove anos.
Resistiu porque era um militar, um interventor, um duro preposto da nova ordem que desprezava a velha ordem democrática: José Carlos Azevedo, o novo reitor, era um capitão-de-mar-e-guerra da Marinha, o que não deixa de ser simbólico da visão estreita que a ditadura tinha da universidade. Ele desembarcou na UnB em maio de 1976, uma semana após o Dia Nacional de Lutas contra Prisões Arbitrárias. O capitão começou punindo os estudantes, eles reagiram com uma greve de quatro meses e Azevedo chamou a PM. Era a quarta invasão armada do campus, desde o golpe de 64. Mais de mil estudantes foram expulsos, assim como professores de esquerda. Homem de confiança do CENIMAR que sequestrou Honestino, o capitão-reitor ainda convocaria mais duas vezes a polícia-militar para sustentar sua gestão de mão-de-ferro, que só acabaria em março de 1985, três dias antes que o último general da ditadura, seu amigo João Figueiredo, deixasse o Planalto pela porta dos fundos para não passar a faixa ao sucessor civil.
Os grandes homens, como dizia a oração de Péricles, estão guardados em nossos corações e mentes, mas também esculpidos na pedra dos monumentos, dos museus, das escolas. Aqui mesmo temos a Fundação Darcy Ribeiro, o Pavilhão Anísio Teixeira, a revista Darcy e o recém-inaugurado Memorial Darcy Ribeiro, que ele mesmo -- fiel ao seu estilo sedutor -- batizou como 'Beijódromo'. O Diretório Central dos Estudantes da UnB tem o nome de Honestino Guimarães, que ainda batiza o Museu Nacional, projeto de Niemeyer em forma de cúpula na Esplanada dos Ministérios.
O capitão Azevedo morreu em fevereiro de 2010, adornado por um indulgente perfil no obituário do Correio Braziliense: "Um servidor da educação como ninguém, um cientista exato e um humanista completo”, definiu o jornal, confirmando a piedosa tradição brasileira de maquiar biografias pela mera fatalidade da morte. Apesar da generosidade do retrato, o reitor-interventor não tem um só espaço com seu nome na UnB que ele ultrajou.
Todos precisamos lembrar.
Eu, como jornalista, tenho o dever de contar.
Senhoras e senhores,
A construção desse mundo, vasto mundo, é feita no dia a dia pelos pequenos gestos e pelas grandes ações dos homens, grandes ou pequenos. O filósofo estadunidense Ralph Waldo Emerson (1803-1822) dizia: "Na verdade, não existe história; apenas biografia". As revoluções, as guerras, os levantes, as tragédias, as epopeias, os movimentos de massa, ontem como hoje, são produto de homens e mulheres que deram um passo à frente e desataram ações e reações que nem eles mesmos previam ou mediam. Seus nomes às vezes se diluem na multidão e se dissolvem na voragem dos fatos, mas eles estão lá, cedo ou tarde resgatados do anonimato pelo historiador meticuloso ou pelo repórter curioso.
A insurreição bolchevique que subiu as escadarias do Palácio de Inverno de São Petersburgo, em 1917, ganhou cara, nome, calor humano e dimensão histórica pelo relato apaixonado de uma testemunha ocular, o repórter John Reed, que inaugurou o jornalismo moderno com a descrição eletrizante daqueles dez dias que abalaram o mundo. É uma das dez melhores reportagens do frenético século 20, segundo a avaliação de jornalistas e universidades dos Estados Unidos.
A melhor reportagem de todas, por aclamação, é o acurado resgate que o repórter John Hersey fez sobre um minuto decisivo na história do mundo: 8h15m da manhã de 6 de agosto de 1945, quando a primeira bomba atômica pulverizou instantaneamente 100 mil pessoas em Hiroshima. Meses depois daquele súbito clarão que deu à humanidade a percepção de seu próprio fim na treva da era nuclear, Hersey reconstruiu aquele inferno pela biografia de seis sobreviventes que recontavam a história.
Trabalhou cerca de duas semanas no Japão para fazer as perguntas necessárias e outros 50 dias nos Estados Unidos para escrever sua enxuta reportagem de 31.347 palavras. Hersey extraiu do evento mais desumano de todas as guerras o relato mais pungente da dignidade humana. Hiroshima era uma reportagem tão fascinante que o editor da revista semanal The New Yorker, conhecida pela excelência e rigor de seus trabalhos de qualidade literária, não conseguiu quebrar o texto – e tomou a histórica decisão de publicar todo o material de Hersey numa única edição da revista, a de 31 de agosto de 1946, toda ela dedicada àquele monumento jornalístico construído sobre os escombros de uma barbárie.
Duas perguntas cruciais definem aquele momento único da história. Nenhuma delas foi feita por jornalistas.
Meses antes de a bomba cair em Hiroshima, os Estados Unidos planejavam a maior operação militar da história: a invasão terrestre do Japão. A Operação Coronet, na região de Tóquio, previa o desembarque em março de 1946 de 25 divisões de Exército, o dobro do contingente que invadiu a Normandia. A Operação Olympic, no sul da ilha, reuniria em novembro de 1945 a mais fantástica armada da história: 42 porta-aviões, 24 encouraçados, 400 destroieres.
Todo esse levantamento ruiu em 16 de julho com o sucesso de Trinity, a primeira bomba nuclear da história, detonada na área secreta de testes no deserto de Alamogordo, no estado americano do Novo México. Nas Filipinas, um coronel entrou apressado na sala do comandante supremo aliado do Pacífico, general Douglas MacArthur, para lhe dar a notícia da bomba. Desolado com o virtual abandono de meses de exaustivo planejamento, o coronel, num último esforço para salvar seu trabalho, fez a primeira pergunta:
– General, e se a bomba não funcionar?
MacArthur pensou, tirou da boca o cachimbo de espiga de milho que copiou do poderoso Popeye e mirou no horizonte, como quem via além da guerra que morria, como quem antevia a paz que nascia. O general respondeu com outra pergunta:
– E se funcionar, coronel? E se a bomba funcionar?
A bomba, como se lê no relato de John Hersey, funcionou em 6 de agosto em Hiroshima. E funcionou outra vez, três dias depois, em Nagasaki. Ao meio-dia de 15 de agosto de 1945, pela primeira vez na história, os súditos do Japão ouviram pelo rádio a voz precária do seu Imperador anunciando a capitulação num japonês formal que a população mais simples não entendeu claramente. "Resolvemos abrir caminho para uma paz geral para todas as gerações vindouras, suportando o insuportável e sofrendo o insofrível", disse o imperador Hiroíto.
Em tempos insuportáveis e sofríveis, as dúvidas são ainda maiores.
O Brasil da ditadura era um país assustado, acuado, abafado, apequenado.
A prepotência não permitia perguntas para números sem resposta: 500 mil cidadãos investigados pelos órgãos de segurança; 200 mil detidos por suspeita de subversão; 50 mil presos só entre março e agosto de 1964; 11 mil acusados nos inquéritos das Auditorias Militares, 5 mil deles condenados, 1.792 dos quais por 'crimes políticos' catalogados na Lei de Segurança Nacional; 10 mil torturados apenas na sede paulista do DOI-CODI; 6 mil apelações ao Superior Tribunal Militar (STM), que manteve as condenações em 2 mil casos; 10 mil brasileiros exilados ; 4.862 mandatos cassados, com suspensão dos direitos políticos, de presidentes a governadores, de senadores a deputados federais e estaduais, de prefeitos a vereadores; 1.148 funcionários públicos aposentados ou demitidos; 1.312 militares reformados; 1.202 sindicatos sob intervenção; 245 estudantes expulsos das universidades pelo Decreto 477 que proíbe associação e manifestação; 128 brasileiros e 2 estrangeiros banidos; 4 condenados à morte (sentenças depois comutadas para prisão perpétua); 707 processos políticos instaurados na Justiça Militar; 49 juízes expurgados; 3 ministros do Supremo afastados, o Congresso Nacional fechado por três vezes; 7 Assembleias estaduais postas em recesso; censura prévia à imprensa e às artes; 400 mortos pela repressão; 144 deles desaparecidos até hoje.
Conto e lembro porque isso precisa sempre ser recontado e relembrado, para que ninguém duvide que a ditadura não foi branda, nem breve. Todos e cada um desta longa contabilidade de violência encerravam um universo de dor, de frustração, de lamento, de medo e de opressão que se espalhava, que contaminava, que amesquinhava um país e um povo.
Quando se estreita o limite da dignidade amplia-se o espaço para o cinismo, um desvio da verdade que deve ser combatido pelo jornalismo e pelos jornalistas que respeitam este ofício.
Os atuais comandantes militares brasileiros foram cínicos nas críticas que fizeram ao projeto do próprio Governo sobre a Comissão Nacional da Verdade, destinada a investigar violações da ditadura aos direitos humanos. Falando em nome do Exército, Marinha e Aeronáutica, no documento revelado pelo jornal O Globo em março passado, os oficiais-generais escrevem: "Passaram-se quase 30 anos do fim do governo chamado militar...".
Só um raciocínio de má-fé explícita impede que se identifique o finado regime de 64 pela palavra que o define com precisão: uma ditadura, nascida do golpe que derrubou o presidente constitucional, trocado pelo rodízio no poder de cinco generais, com atos de força que esmagavam a Constituição, apoiados num dispositivo repressivo que prendia, torturava e matava, julgando civis em tribunais militares, sufocando a política, impondo censura, decretando cassação e forçando o exílio.
Pergunto: Os militares fizeram tudo aquilo e ainda duvidam do que fizeram? Afinal, querem que chamem tudo aquilo do quê?
Lamento que quase ninguém, na imprensa ou no Parlamento, tenha repudiado este desrespeito oficial para com a história recente do país.
É justo lembrar que, nesse pedaço feio da história, os militares não estavam sós.
Tinham ao seu lado toda a grande imprensa brasileira, não apenas nos editoriais raivosos, mas na conspiração científica que mobilizou o empresariado nacional nos três anos que antecederam o golpe – como revelou em 1981 o historiador e cientista político uruguaio René Armand Dreifuss (1945-2003), professor da Universidade Federal Fluminense, em seu clássico 1964: A conquista do Estado.
Como na loucura de Hamlet, havia método na conspiração civil-militar para derrubar João Goulart, que começa já em novembro de 1961, três meses após a renúncia de Jânio Quadros, com a criação do IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Militares da reserva entram então no barco do conluio, um deles um general chamado Golbery do Couto e Silva.
No início de 1962 oficiais das Forças Armadas foram a São Paulo para um encontro com o jornalista Júlio de Mesquita Filho, a quem entregaram um documento sobre as normas que iriam comandar o governo militar após a queda de Jango. O grupo, integrado pelos generais Cordeiro de Farias e Orlando Geisel, foi mais explícito com o dono de O Estado de S.Paulo: o novo regime queria ficar no poder por pelo menos cinco anos, o que viria a ser a primeira mentira do golpe. O regime militar perdurou quatro vezes mais.
Animado com a conversa, Mesquita chegou ao ponto de sugerir oito nomes para o futuro ministério golpista. O jornalista, acreditem, chegou a fazer o rascunho de um Ato Institucional para fechar Senado, Câmara e Assembleias e para cassar mandatos. Ironia da história: o instrumento de força esboçado por Júlio Mesquita era o mesmo a que a ditadura submeteria seu jornal em 1968 com o AI-5. Os ex-amigos do golpe confabulado pelo dono do Estadão forçariam o jornal a cobrir os espaços censurados nas páginas com versos de Camões e receitas de bolo.
Precisamos lembrar, devemos contar.
Os militares não podem ser cínicos. Os jornalistas, jamais.
Lamento o revisionismo histórico daqueles que, de forma apressada, carimbam como terroristas todos os que chegaram ao limite da própria vida para confrontar o arbítrio. É uma leviandade que fere os fatos, a memória e principalmente a universidade. Foi na parcela mais consciente, mais insubmissa, mais generosa da juventude que se buscou a força do bem para o bom combate, o justo combate ao mal da força e da prepotência.
Esse bando de irmãos estava aqui, com vocês, na universidade.
Para eles Skakespeare escreveu, em Henrique V:
Esta história o bom homem ensinará ao seu filho;
E nenhuma festa de São Crispim acontecerá
Desde este dia até o fim do mundo
Sem que nela sejamos lembrados;
Nós poucos, nós poucos e felizes, nós, bando de irmãos;
Pois quem hoje derramar seu sangue comigo,
Será meu irmão; seja ele o mais vil que for,
Este dia enobrecerá sua condição.
We few, we happy few, we band of brothers…
Foi da universidade, desse bando de irmãos, que se elevou o protesto mais veemente, a rebeldia mais indignada, o gesto mais altivo contra o mal, a prepotência, a força. Repudiando o que fizeram aqui, ao atropelar a sagrada autonomia da universidade, denunciando o que fizeram ali, ao afrontar o sagrado império da lei, ao violar a Constituição, o Parlamento, os tribunais, as liberdades, ferindo os direitos humanos, machucando o corpo humano.
Muitos jovens deste país poderiam ter calado, ter sufocado, ter consentido com o que se fazia e desfazia. Mas buscaram as ruas, as escolas, os parlamentos. Quando estes espaços foram cercados, ocupados e desfigurados pela força, foram obrigados à resistência e ao confronto extremo.
No limite do insuportável e do sofrível, abandonaram famílias, carreiras, amigos, afetos e a luz do dia para um combate desproporcional, arrojado, irrestrito, utópico contra a violência que atingia a todos.
Não fizeram aquilo porque eram mandados, comandados, teleguiados. Fizeram tudo aquilo porque queriam, porque sentiam, porque deviam, pelo justo imperativo da sobrevivência, pelo forte motivo da urgência, pelo simples dever de consciência. Arriscaram suas vidas, acabaram suas vidas lutando e combatendo por nossas vidas.
Foram resistentes, como a Resistência francesa que lutou contra o invasor e o opressor nazista. Foram inconfidentes, como os heróis da conjuração mineira que anteciparam o grito por liberdade. Foram combatentes, como os jovens do exército brancaleone de George Washington que desafiaram o Império britânico para estabelecer os fundamentos do regime democrático. Foram insurgentes como os negros que combatiam o apartheid na África do Sul, como os povos de Angola e Moçambique contra o regime colonial de Salazar, como os frágeis camponeses do Vietnã que ao longo de décadas expulsaram de suas lavouras de arroz os impérios poderosos de chineses, japoneses, franceses e norte-americanos.
Lutaram pela liberdade contra a opressão de exércitos, regimes e sistemas que só sobrevivem à custa da liberdade dos outros. Fizeram levantes sancionados pelo direito imemorial e universal da luta contra a tirania.
Guerrilha não se confunde com terrorismo, definido sim pelo deliberado objetivo de infundir terror entre a população civil, sob o risco assumido de vítimas inocentes – como no caso do terror consumado do 11 de Setembro em Nova York, como no caso do terror frustrado da bomba do Riocentro no Rio de Janeiro. É por isso que ninguém, nem mesmo um cínico, se atreve a escrever "terroristas de Sierra Maestra" ou "terroristas do Araguaia".
Eram guerrilheiros, não terroristas. Terrorista era o Estado, que usou da força e abusou da violência para alcançar e machucar dissidentes presos, indefesos, algemados, pendurados, desprotegidos diante de um aparato impiedoso que agia à margem da lei, na clandestinidade, nos porões, torturando e matando sob o remorso de um codinome, encoberto na treva de um capuz. Terroristas eram os assassinos de Honestino Guimarães, Vladimir Herzog, David Capistrano da Costa, Manoel Raimundo Soares, Stuart Angel Jones, Manoel Fiel Filho, Paulo Wright, Zuzu Angel, entre tantos outros.
"A sociedade foi Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram", ensinou Ulysses Guimarães, no dia da promulgação da Constituição de 1988. "Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o estatuto do homem, da liberdade e da democracia, bradamos por imposição de sua honra: temos ódio à ditadura. Ódio e nojo", reforçou Ulysses.
Aos guerrilheiros que combateram a ditadura, minha emoção.
Aos cínicos, meu lamento.
Senhoras e Senhores,
A hipocrisia nacional diz que a mera lembrança desses nomes e fatos não passa de revanchismo, de mera volta ao passado.
Uma médica chilena, torturada em 1975 e eleita presidente em 2006, desmente isso: "Só as feridas lavadas cicatrizam", ensina Michelle Bachelet.
O Supremo Tribunal Federal teve, no ano passado, a chance de lavar esta ferida. E, vergonhosamente, abdicou desse dever.
Apenas dois dos nove ministros do STF – Ricardo Lewandowski e Carlos Ayres Brito – concordaram com a ação da OAB, que contestava a anistia aos agentes da repressão. “Um torturador não comete crime político”, justificou Ayres Brito. “Um torturador é um monstro. Um torturador é aquele que experimenta o mais intenso dos prazeres diante do mais intenso sofrimento alheio perpetrado por ele. Não se pode ter condescendência com o torturador. A humanidade tem o dever de odiar seus ofensores porque o perdão coletivo é falta de memória e de vergonha”.
Apesar da veemência de Ayres Brito, o relator da ação contra a anistia, ministro Eros Grau, ele mesmo um ex-comunista preso e torturado no DOI-CODI paulista, manteve sua posição contrária: “A ação proposta pela OAB fere acordo histórico que permeou a luta por uma anistia ampla, geral e irrestrita”, disse Eros Grau, certamente esquecido ou desinformado, algo imperdoável para quem é juiz da mais alta Corte e também sobrevivente da tortura. A anistia de 1979 não é produto de um consenso nacional. É uma lei gestada pelo regime militar vigente, blindada para proteger seus acólitos e desenhada de cima para baixo para ser aprovada, sem contestações ou ameaças, pela confortável maioria parlamentar que o governo do general Figueiredo tinha no Congresso: 221 votos da ARENA, a legenda da ditadura, contra 186 do MDB, o partido da oposição.
Nada podia dar errado, muito menos a anistia controlada.
Amplo e irrestrito, como devia saber o ministro Grau, era o perdão indulgente que o regime autoconcedeu aos agentes dos seus órgãos de segurança. Durante semanas, o núcleo duro do Planalto de Figueiredo lapidou as 18 palavras do parágrafo 1° do Art. 1° da lei que abençoava todos os que cometeram “crimes políticos ou conexos com estes” e que não foram condenados. Assim, espertamente, decidiu-se que abusos de repressão eram “conexos” e, se um carcereiro do DOI-CODI fosse acusado de torturar um preso, ele poderia replicar que cometera um ato conexo a um crime político. Assim, numa única e cínica penada, anistiava-se o torturado e o torturador.
Em 22 de agosto de 1979, após nove horas de tenso debate, o Governo aprovou sua anistia, a 48ª da história brasileira. Com a pressão da ditadura, aprovou-se uma lei que não era ampla (não beneficiava os chamados ‘terroristas’ presos), nem geral (fazia distinção entre os crimes perdoados) e nem irrestrita (não devolvia aos punidos os cargos e patentes perdidos). Mesmo assim, o regime suou frio: ganhou na Câmara dos Deputados por apenas 206 votos contra 201, graças à deserção de 15 arenistas que se juntaram à oposição para tentar uma anistia mais ampliada. Um dos mentores do ‘crime conexo’ era o chefe do Serviço Nacional de Informações, o SNI, general Octávio Aguiar de Medeiros, signatário da anistia de agosto de 1979.
Menos de dois anos depois, em abril de 1981, um Puma explodiu antes da hora no Riocentro, no Rio de Janeiro. Tinha a bordo dois agentes terroristas do Exército: o sargento Guilherme do Rosário, que morreu com a bomba no colo, e o capitão do DOI-CODI Wilson Machado, que sobreviveu impune e, apesar das feias cicatrizes no peito, virou professor do Colégio Militar em Brasília.
Em 24 de abril passado, em trabalho admirável, os repórteres Chico Otávio e Alessandra Duarte, de O Globo, revelaram ao país a agenda pessoal do sargento morto, a agenda que o Exército considerou desimportante para seu arremedo de investigação. Pois lá estão anotados os nomes reais (sem codinome) e os telefones de 107 pessoas, de oficiais graduados a soldados, de delegados a detetives, passando pelo Estado-Maior da PM e o comando da Secretaria de Segurança. Nessa 'Rede do Terror' que conspirava para endurecer o regime não consta o nome de um único guerrilheiro. Todos os terroristas, ali, integravam o aparelho de Estado, patrono da complacente autoanistia que não satisfazia nem seus radicais.
O nome mais ilustre da agenda é Freddie Perdigão, membro de um certo 'Grupo Secreto' organização paramilitar de direita que jogava no fechamento político. Perdigão era coronel da Agência Rio do SNI do general Medeiros. Nada mais cínico e nada mais conexo do que isso.
O 'Grupo Secreto' é responsável por algumas das 100 bombas que explodiram no Rio e São Paulo entre a anistia de agosto de 1979 e o atentado do Riocentro de abril de 1981, endereçadas a bancas de jornal, publicações alternativas da oposição, Assembleia Legislativa e às sedes da OAB e da ABI.
Apesar da equivocada decisão do Supremo, o Brasil acaba de ser condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA por se eximir da investigação e punição aos agentes do Estado responsáveis pelo desaparecimento forçado de 70 guerrilheiros do Araguaia. "A Lei da Anistia do Brasil é incompatível com a Convenção americana, carece de efeito jurídico...", criticou a Corte da OEA.
Em novembro passado, o Ministério Público Federal em São Paulo ajuizou ação civil pública pedindo a responsabilização civil de três oficiais das Forças Armadas e um da PM paulista sobre morte ou desaparecimento de seis pessoas e a tortura de outras 20 detidas em 1970 pela Operação Bandeirante (Oban), o berço de dor e sangue do DOI-CODI, a sigla maldita que marcou o regime e assombrou os brasileiros. O capitão reformado do Exército Maurício Lopes Lima é frontalmente acusado pelos 22 dias de suplício a uma das presas, líder da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares). Nome da presa torturada: Dilma Rousseff.
Agora presidente, Dilma Rousseff encara este desafio que intimidou os cinco homens que a antecederam no Palácio do Planalto a partir de 1985, quando acabou a ditadura: a punição aos torturadores do golpe de 1964. Não será por revanchismo, mas pelo dever ético de todo país que respeita a verdade, a memória e sua história. Como fazem com altivez a Argentina, o Uruguai, o Chile ao lavar suas feridas, feias como as nossas.
Uma enorme frustração cabe aos dois presidentes que somam 16 anos no poder.
Fernando Henrique Cardoso, descendente de três gerações de generais e sociólogo de origem marxista, esperou o último dia de seu segundo mandato, em dezembro de 2002, para duplicar vergonhosamente os prazos de sigilo dos documentos oficiais que podem jogar luz sobre a história do país. Lula, o líder sindical que nasceu do movimento operário mais atingido pelo autoritarismo, sucedeu FHC na presidência sob a expectativa de que iria corrigir aquele ato de lesa-conhecimento de seu antecessor. E Lula, cúmplice maior, não fez absolutamente nada para facilitar e agilizar o acesso aos registros contingenciados pelos 21 anos de regime militar. O sociólogo e o metalúrgico, assim, nivelaram-se na submissa inércia dos últimos 16 anos de governos tementes à eventual reação da caserna e seus ex-comandantes de pijama. Dilma Rousseff, com maior hombridade que seus antecessores, pode limpar essa mancha. Seu governo apoia, no Congresso, o projeto que impõe limites estreitos para documentos hoje com sigilo infinito. Aprovado, o texto estabelece um prazo de 25 anos para o sigilo máximo de 'ultrassecreto', renovável uma única vez.
Senhoras e Senhores,
O governo, qualquer governo, faz mal à imprensa.
A imprensa, toda a imprensa, faz bem ao governo – principalmente quando critica.
Governo não precisa do 'sim' da imprensa. Governo evolui com o 'não' da imprensa.
A proximidade da imprensa com o governo abafa, distorce o jornalismo.
A distância entre governo e imprensa é conveniente para ambos, útil para a sociedade e saudável para a verdade.
Jornalismo é tudo aquilo de que o governo não gosta. Tudo aquilo de que o governo gosta é propaganda.
Certa vez, o segundo presidente da ditadura, general Costa e Silva, queixou-se das críticas da imprensa. Sua interlocutora, a condessa Pereira Carneiro, dona do Jornal do Brasil, esclareceu que eram apenas "críticas construtivas". O general, sempre franco, foi direto ao ponto: "Mas o que eu gosto mesmo é de elogio!..."
Isso é uma grande injustiça com Costa e Silva. Ele não era o único. Todos os presidentes acham e querem a mesma coisa, só não dizem.
A transição de poder de Lula para Dilma permite notar, neste campo, uma evidente evolução. A boa novidade surgiu já no primeiro discurso da primeira mulher presidente, na noite de sua vitória: "Disse e repito que prefiro o barulho da imprensa livre ao silencio das ditaduras. As criticas do jornalismo livre ajudam ao país e são essenciais aos governos democráticos, apontando erros e trazendo o necessário contraditório", disse Dilma, enunciando algo impensável na cabeça de seu loquaz antecessor.
A imprensa, numa definição mais simples, deve ser o fiscal do poder e a voz do povo. Com o estrito cuidado para não inverter esta equação.
A função primordial da imprensa está acima e além do governo, de qualquer governo.
O leitor vive hoje, no Brasil, um certo momento de desconforto. O debate em torno do governo separa, reduz e rebaixa a imprensa. Um maniqueísmo feroz divide os meios de comunicação, em suas variadas plataformas, num jogo de perde-ganha, de simpatias e antipatias, amor e ódio, admiração e repulsa, que se retroalimentam e se excluem. Parecem duas torcidas ferozes que vão ao estádio não para exaltar ou vaiar o jogo no campo, mas para brigar na arquibancada. O reducionismo político das últimas eleições divide veículos e profissionais em dois campos aparentemente incompatíveis: PT x PSDB, Lula x FHC, petista x tucano, governista x oposicionista, independente x adesista, golpista x chapa-branca, blog sujo x blog limpo...
É uma regressão lamentável ao estágio exaltado da imprensa da primeira metade do século 20, quando os grandes jornais e seus principais jornalistas tinham forte alinhamento partidário, num momento político em que o Brasil se dividia em torno da figura de Getúlio Vargas, encarnação do bem e do mal para devotos e desafetos.
Mais do que simpatia, os veículos tinham então linhas de aberta simpatia partidária, regular afinidade publicitária e velada contribuição financeira.
Quando cai na armadilha do restrito conflito partidário, a imprensa se apequena e se distancia dos temas mais relevantes da sociedade, perdendo foco e relevância como jornalismo.
Qualquer tentativa de discussão mais serena sobre um tema específico se emaranha imediatamente na rede de desconfiança mútua sobre as motivações políticas e as preferências partidárias subjacentes. Como fogo na palha, isso se reproduz, em doses cada vez mais cavalares, nos comentários de leitores e internautas que assumem o controle do debate e desviam o foco para velhas pendengas que nada têm a ver com o texto original.
Tudo isso agravado por um mal insidioso que com frequência torna a Internet absolutamente insuportável e sofrível: a praga do anonimato.
Com o temerário respaldo dos portais, jornais, revistas e blogs, o inexplicável manto para aqueles que não ousam dizer seu nome é uma porteira aberta para o debate desqualificado, a troca de ofensas, as grosserias crescentes e a total sensação de perda de tempo. O tiroteio entre os internautas, limitado pelo recorrente embate tucano x petista que parece resumir o universo, fulmina qualquer tentativa de um debate inteligente e enriquecedor. O país vive uma completa democracia, que não se reflete na qualidade do que se vê e se lê no tedioso belicismo da Internet, com raras exceções. Nada, portanto, justifica o sigilo do nome e o abuso de codinomes engraçados ou ridículos que apenas ocultam a pobreza das ideias e o despreparo para a discussão inteligente. Eu, por princípio, só entro no espaço de comentários com meu nome, profissão e cidade, certo de que é um dever meu me qualificar perante quem me lê.
Espaço de uma justa e infinita liberdade, a Internet deveria simplesmente impor a regra da identificação a quem deseja usufruir de seu espaço democrático. Apenas isso. Imediatamente, resgataríamos o espaço e o tempo perdidos para os que não têm a coragem de expor suas ideias, boas ou ruins, com o próprio nome.
A Internet é uma ferramenta que impressiona, encanta, desafia e assusta. Especialmente a indústria da informação e o próprio profissional de imprensa. Atitudes, comportamentos, decisões e requisitos precisam ser redefinidos para situar o papel do jornalista neste admirável mundo novo. Na vida compassada do século 19, o dia já tinha 24 horas, mas o jornal só tinha o livro como concorrente. Dava para ler tudo, da primeira à ultima página. Agora, no frenético século 21, o dia parece mais curto, e o jornal certamente vive uma crise de identidade. Uma pesquisa da ABERT mostra que o leitor em 2001 gastava 64 minutos por dia na leitura do jornal. Seis anos depois, essa média baixou para 45 minutos. O jornal está sendo trocado pela Internet. Nesse período, o tempo diante da tela do computador pulou de 2 para mais de 3 horas diárias.
Em 2009, a Associação Nacional de Jornais (ANJ) registrou uma retração de 3.5% na circulação diária total no país, em relação ao ano anterior: a soma de jornais caiu de 8,5 milhões para 8,2 milhões de exemplares. É a segunda queda de circulação desde 2003, a primeira consecutiva.
O Rio de Janeiro é o melhor exemplo dessa preocupante retração. Nos anos 1950, quando ainda era a capital, a cidade de 3 milhões de habitantes tinha 18 jornais diários, com tiragem diária de 1,2 milhão de exemplares. Hoje, com o dobro da população, o Rio tem apenas dois grandes jornais e 500 mil exemplares/dia.
Duas décadas atrás, a Folha de S.Paulo se gabava de ser "o 3° maior jornal do ocidente", com uma edição dominical de 1 milhão de exemplares. Em 2010, a tiragem média despencou para 294 mil exemplares e a Folha ainda perdeu o primeiro lugar no ranking nacional para o Super Notícia, um jornal popular de Belo Horizonte, vendido a 25 centavos para as classes C e D e que atrai leitores com prêmios como panelas, faqueiros e bugigangas. No sábado, 30 de abril, dia seguinte ao casamento real em Londres, a manchete do maior jornal do Brasil tinha outro tema: "Tarado causa pânico em Sabará".
Mês passado, num fórum sobre liberdade na PUC de Porto Alegre, o músico Lobão, um dos astros do rock nacional, compôs uma bela frase sobre o vórtice da era digital:
– As pessoas, com cada vez mais informação à disposição, estão cada vez menos informadas – disse Lobão.
Senhoras e Senhores,
Regimes fechados e controles rigorosos são ultrapassados pela disseminação da tecnologia, que tira a notícia das mãos exclusivas dos repórteres. Simples cidadãos, militantes da oposição ou transeuntes eventuais sacam de suas engenhocas — smartphones poderosos, vídeo-câmeras minúsculas ou netbooks de acesso mundial — e se transformam em repórteres acidentais e testemunhas oculares e virtuais da história, que se desenrola à sua frente, nas praças, nas ruas, diante da varanda de seus apartamentos.
A derrubada de Hosni Mubarak no Egito, o cerco a Muammar Kadafi na Líbia e os solavancos da revolução popular que toma as praças das grandes cidades no norte da África são revelados, acompanhados e disseminados em primeira mão pelos cidadãos que vivem na carne os dramas políticos de seus países e seus regimes. Os jornalistas chegam depois, alertados pelas primeiras imagens disseminadas de forma amadora, embrionária, pelo povo armado pela tecnologia. E os jornalistas ali chegados continuam se abastecendo dessa rede informal, espontânea, capaz de cobrir tudo, em todos os lugares, com imagens e detalhes que uma equipe reduzida de TV jamais conseguirá reproduzir.
É a informação multimídia, multiforme, multifacetada, onipresente, intermitente, onisciente, on-line, ao vivo, 24 horas por dia, numa overdose de mídias que pode esgotar o público e exaurir o repórter. O jornalista destes novos e frenéticos tempos terá que se reciclar e aprender a conviver com tudo isso, extraindo desses avanços os recursos e as manhas que lhes concedam o exercício desse jornalismo numa realidade febril induzida pelas novas tecnologias.
Uma avalanche noticiosa que pode desnortear o repórter pela vaguidão, pela irrelevância, pela amplitude de um mundo onde tudo é notícia, tudo é noticiado, tudo é testemunhado e nada pode ser desprezado. A mídia impressa, premida pela concorrência, comprime prazos, corta custos, elimina espaços, reduz equipes e privilegia a informação mais curta, mais rápida, mais digerível. O espetáculo midiático concorre com o jornalismo, o supérfluo invade colunas, comentários, blogs e páginas editoriais em detrimento de temas de conteúdo mais sério.
Ontem, domingo, uma chamada num dos portais mais importantes do país destacava esta transcendental notícia: "Mulher acaba presa após dar mordida no lábio do namorado".
A facilidade e a rapidez injetam comodismo e preguiça no repórter destes novos tempos. Cada vez menos gente se atreve a abandonar o ambiente refrigerado das redações cibernéticas mais avançadas. O contato direto e pessoal do repórter com a fonte é mediado, em nome da eficiência e do relógio, pelos recursos tecnológicos de praxe – celular, e-mail, videocâmara, laptop. Todos se conectam, se comunicam e se informam via tecnologia multimídia.
Um mês atrás, o escritor Gay Talese, que brindou o jornalismo com exemplos admiráveis de textos de fôlego e excelência, concedeu uma bela entrevista a Fernando de Oliveira, repórter de um pequeno jornal gaúcho, o Diário Regional, de Santa Cruz do Sul.
A oportuna reflexão de Gay Talese: "Um bom trabalho não é rápido, nem fácil. Ele demora um longo tempo, mas também dura um longo tempo. Muito do jornalismo de hoje é feito a partir de um laptop, de jornalistas falando de outros jornalistas. Eles procuram informações a partir da internet. Eles não falam com muitas pessoas..."
Talese diz que o jornalismo tem se tornado muito previsível. Cito: "Nada é profundo, pensado ou divagado. O jornalismo está se tornando preguiçoso, porque os jornalistas não querem se mexer. Estão perdendo todo o contexto da vida. Querem fazer tudo rápido, de maneira eficiente, sem perder nenhum tempo".
O mestre do new journalism ensina: "Às vezes você aprende com o silêncio, com os momentos de indecisão. Mas você não vai conseguir isso utilizando o Google, um telefone celular, um gravador. Tem que sair na rua e cultivar uma relação, gastar tempo com ela". Gay Talese chama isso "the art of hanging out", ou seja, "a arte de sair por aí". Ricardo Kotscho, o grande repórter, traduz tudo isso como "gastar a sola do sapato".
No jornalismo da Internet, tudo é rápido, inodoro, insípido, frio. Os contatos são rápidos e telegráficos como os textos produzidos aos borbotões, sobre tudo e todos, nos portais, blogs e sites. Produções sem esmero de texto, sem revisão, sem muita reflexão. O velho ‘furo’ é medido em minutos, às vezes segundos. Nada sobrevive às teclas do Ctrl-V / Ctrl-C, o batido Copiar/Colar que sustenta tanta produção e tanta pretensão, reproduzindo sem limites erros, estilos e imprecisões que ganham a eternidade na Grande Rede.
Escrevendo na ordem direta, com a rapidez possível e a brevidade exigida, os repórteres são treinados a abandonar textos mais longos, analíticos, reflexivos. Não há muito tempo para reflexão. A pressa é uma virtude, a lapidação é um pecado demorado que trava e entrava a velocidade exigida de todos para tudo. Não há tempo a perder.
A chamada Web 2.0, que abriu o mundo da interconexão social, criou a rede de mão dupla que torna o usuário um personagem ativo do universo informático. Isso produz uma nova, desconhecida realidade no mundo da comunicação. Antes, o público leitor recebia passivamente, em suas casas, o jornal, a revista ou o programa de TV produzido, editado, escolhido e transmitido por empresas e jornalistas absolutamente hegemônicos sobre o resultado de seu trabalho. Eles decidiam o que, quando, como, onde e por quanto a informação seria gerada e transmitida para seus consumidores e usuários.
A Internet subverteu tudo isso, fazendo o usuário avançar sobre os territórios nunca dantes devassados das grandes mídias. O cidadão-internauta agora escolhe a mídia, o momento, a forma e o custo que mais lhe convém para receber a notícia, a música, o vídeo, a propaganda.
Acabou o jogo unilateral. Agora todos jogam, todo o tempo, em todos os lugares.
Qualquer um, hoje, pode ser um cidadão-usuário-internauta-jornalista. A comunicação não é mais um privilégio da grande indústria de mídia, controlada por big-shots ou pelos herdeiros presuntivos de famílias de sobrenomes quase aristocratas da imprensa mais tradicional. O poder não é controlado por ninguém e é moldado por todos.
Desde 2004 existe uma rede social nos Estados Unidos, chamada Digg ('cavar', em inglês), que tem 8,5 milhões de acessos por mês. O seu princípio é simples: os internautas votam nas notícias que mais lhes agradam, criando uma cotação onde blogs geralmente superam grandes portais. É o próprio usuário que qualifica e classifica as notícias, podcasts e vídeos mais importantes. O criador do Digg, Kevin Rose, um estudante de ciência da computação da Universidade de Las Vegas, Nevada, tinha apenas 27 anos quando fez a sua aposta: "Antes, era um punhado de editores que determinava o que iria para a primeira página do jornal. Agora, com o Digg, são quase um milhão de editores registrados e continuamente à procura de grandes notícias, informações, histórias e vídeos para expor à comunidade", concede Rose.
É a consumação da "sabedoria das multidões", expressão cunhada pelo jornalista John Heilemann, da revista New York. Fui lá no site testar o que o milhão de sábios do Digg escolhia para minha leitura selecionada. Num sábado, 26 de fevereiro, descobri as coisas mais essenciais do mundo, naquele dia: um carro elétrico que atravessou a Austrália, a descoberta no Texas sobre o efeito afrodisíaco da urina do macaco-prego macho sobre a fêmea, a mulher de Boston que perdeu a cobra de estimação no metrô, a vencedora do concurso "pior mãe do mundo" e a criação de um vírus para derrubar a blindagem dos computadores da Apple. Nenhuma das 17 notícias mais importantes do Digg, naquele dia, roçava no tema que atraía a atenção do mundo: o cerco ao ditador líbio Kadafi e os levantes populares que agitavam o mundo árabe.
As multidões, pela simples matemática, nem sempre são mais justas, ou ao menos sábias. Em agosto de 1934, 42 milhões de alemães foram às urnas para decidir, num plebiscito, se o chanceler Adolf Hitler deveria acumular o cargo de presidente da República, vago há duas semanas com a morte de Paul von Hindenburg. Mais de 38 milhões, 90% do eleitorado, aprovaram a acumulação de poder no homem que, cinco anos depois, arrastaria o mundo para o maior conflito bélico da história, que matou entre 50 e 70 milhões de pessoas.
O F uhrer gostou dessa atravessada ideia de sabedoria popular. Em abril de 1938, na Áustria já ocupada pelas tropas nazistas, Hitler promoveu outro plebiscito, desta vez com uma única pergunta ao acuado povo austríaco: "Você concorda com a reunificação da Áustria à Alemanha e você vota no partido do nosso líder Adolf Hitler?". A cédula não era colocada diretamente na urna. O eleitor entregava a cédula a um gentil 'fiscal' alemão postado ao lado da seção eleitoral. Hitler ganhou com 99,73% dos votos.
A sabedoria das multidões, ainda hoje, pode privilegiar uma sesquipedal burrice.
Cerca de 2.200 km separam São Bernardo do Campo, em São Paulo, de Cocal dos Alves, no interior do Piauí.
Na cidade paulista mora Maria Helena, de 27 anos. Na cidade piauiense vive Izael Francisco, de 14 anos. Ela é modelo e falante, ele é tímido e mora na roça com o avô analfabeto.
Maria acaba de ganhar R$ 1,5 milhão de prêmio, em dinheiro, como vencedora do BBB 11, o Big Brother Brasil, aquele programa da Rede Globo que atrai milhões de pessoas no país para acompanhar durante 11 semanas os diálogos patetas de garotas curvilíneas com garotos musculosos, todos transbordantes de hormônios e carentes de neurônios. O professor de ética jornalística da Faculdade Casper Líbero, Eugênio Bucci, rotulou o BBB como "o mais deseducativo programa da TV brasileira, onde a fama justifica qualquer humilhação".
Apesar disso, mais de 100 mil jovens brasileiros se inscreveram para o BBB que pode parar até a maior cidade brasileira: 40% de Ibope, sua audiência média, significam quase dez milhões de telespectadores, metade da população da Grande SP. No programa final, Maria recebeu, pelo telefone, 51 milhões de votos. Se fosse candidata a presidente, teria derrotado José Serra por mais de 7 milhões de votos e teria perdido para Dilma Rousseff por pouco mais de 4,5 milhões de votos.
Izael Francisco acaba de ganhar R$ 100 mil (15 vezes menos que Maria) em bolsa-educação como vencedor do Soletrando, quadro do programa "Caldeirão do Huck", apresentado por Luciano Huck na mesma Rede Globo. Venceu 500 mil alunos de escolas públicas, selecionados em mini-seletivas que duraram seis meses em todo o país, num concurso empolgante para soletrar as palavras mais difíceis da língua portuguesa -- algo impossível de alcançar o parvo paredão do Big Brother Brasil. Além da bolsa, o garoto ganhou um netbook. O terceiro colocado do BBB recebeu R$ 50 mil, dois carros e duas motos.
Izael Francisco pretende estudar para jornalismo (seja bem-vindo, Izael!) e se prepara agora para vencer a Olimpíada Brasileira de Matemática, marcada para agosto. Maria Helena já acertou os números, assinou contrato e será a capa da edição de junho da revista Playboy.
Senhoras e Senhores,
A era digital ainda navega, com altos e baixos, neste turbilhão que confunde entretenimento com informação. Suas ferramentas ainda podem ser um estorvo. O Twitter, por exemplo. É um fenômeno ainda incompreendido. Em 2008 tinha 5 milhões de usuários. Em 2010, essa sábia multidão chegava a 175 milhões. Apesar do sucesso, que não me comove, continuo sem entender esse tal de Twitter. O The New York Times revelou em março a lista das 10 pessoas no mundo que causam mais impacto no Twitter.
Acertou quem disse que Barack Obama, líder da maior potência militar do planeta, não é "o cara". O presidente dos Estados Unidos ficou com um modesto sétimo lugar.
O sujeito mais poderoso no planeta do Twitter, pelo conceito do número de vezes em que é citado pelos usuários do microblog, é um inofensivo jornalista de 35 anos. Mais grave: é um humorista da TV. Pior: é brasileiro. Muito pior: é gaúcho. E, para completar a piada: um jornalista gaúcho e torcedor do Internacional, coitado!
Rafinha Bastos, "o cara" do Twitter, é a estrela mais destacada do CQC, o programa de humor da Rede Bandeirante que prova que existe vida inteligente na TV brasileira -- apesar do mau-humor crônico do senador Renan Calheiros.
Esta esquisita lista do top-ten da rede social levanta uma dúvida crucial: tem alguma coisa errada aí – ou com o Twitter, ou com o Rafinha, ou com o Obama. O Osama Bin Laden devia ter desconfiado...
Nas mãos de um político, o Twitter pode virar uma piada ou a prova de um crime. O então senador Aloísio Mercadante, apressado, anunciou pelo twitter a sua "demissão irrevogável", revogada minutos depois pela conversa sedutora do presidente Lula. O que era piada, no caso Mercadante, virou ato de truculência e estupidez nas mãos do senador Roberto Requião. Irritado com uma pergunta pertinente, ele se vangloriou pelo twitter de ter confiscado o gravador de um repórter de rádio, que ele classificou de "provocador engraçadinho".
Requião tuitou: "Numa boa, vou deletá-lo". Foi o que fez o senador engraçadinho, num dos mais inacreditáveis atos de violência e censura praticada por um parlamentar após a ditadura. Devolveu depois o gravador com a entrevista apagada. Divulgou a entrevista na íntegra depois em seu site, com um argumento digno dos garotões de músculos avantajados do BBB: "Eu mesmo quis ter o controle da entrevista, sem trucagens", explicou o mais novo e violento editor da imprensa brasileira. Apesar da brutalidade, Requião corre o risco de ser mais um na multidão da impunidade. O presidente do Senado, José Sarney, amenizou a estupidez explícita como uma simples "questão de temperamento".
Senhoras e Senhores,
A biografia é o fio condutor da história. Ela tem, sobre o jornalista, a atração que a luz exerce sobre os pirilampos. Uma bela biografia é isca segura para uma bela reportagem. O poderoso relato de vida das pessoas, simples ou poderosas, faz a diferença para o bom repórter.
Nada atrai mais o jornalismo do que o traço e o gesto das pessoas que movem o mundo, que geram ideias, que inspiram exemplos, que arrastam multidões, que transformam os tempos e ganham espaço cativo na estante da história e na memória dos homens.
O foco preferencial do jornalismo são as pessoas que dizem 'não', as pessoas que têm a coragem de dizer 'não', a coragem de enfrentar desafios, de contrariar interesses, de rebater dogmas, de fazer as perguntas mais impertinentes, mais abusadas, mais necessárias.
O 'não' mais corajoso da história foi o do naturalista inglês Charles Darwin (1809-1882). Ele enfrentou preconceitos, venceu suas origens culturais e superou restrições religiosas para recolocar o homem no seu devido lugar. Seu cérebro prodigioso desfez fábulas celestiais para nos situar, com humildade, apenas como o representante mais inteligente de um mundo animal que tem sua origem comum nas espécies selecionadas pelo elegante, caprichoso, indesmentível mecanismo da evolução natural. Dizer 'não' a Deus e à Igreja, naqueles tempos inflexíveis da ortodoxia vitoriana, define a coragem e a grandeza eterna de Darwin.
Um segundo 'não' vem de um jornalista. Conservador, reacionário, imperialista, rabugento, desbocado, teimoso, beberrão e fumante compulsivo, Winston Churchill (1874-1965) foi grandioso nas atitudes inspiradoras, insuperável na elegância da melhor prosa inglesa, imbatível na fina ironia e invencível na determinação de enfrentar a mais assustadora ameaça do século 20: Hitler e sua ideologia totalitária. Seu granítico "não" salvou a humanidade da submissão ao nazismo. Em cinco dias decisivos de maio de 1940, entre a sexta-feira, 24, e a terça-feira, 28, a Grã-Bretanha estava assombrada pela rendição inesperada da França e o virtual esmagamento das tropas inglesas em Dunquerque. Churchill estava virtualmente só, inclusive dentro do gabinete, que procurava uma saída para o armistício com o III Reich.
Opondo-se a Lorde Halifax, o ministro das Relações Exteriores que apoiava a política do apaziguamento com Hitler desde Munich, o primeiro-ministro mudou a história ao dizer 'não" à paz em separado. Se tivesse cedido, a Inglaterra teria saído da guerra e o nazismo triunfaria para sempre, com seus aliados da Itália e Japão.
Um terceiro 'não' veio de Ulysses Guimarães (1916-1992). Seu maior momento foi nas praças de todo o país, comandando multidões nas Diretas-Já, e sua melhor fala foi na noite de Salvador de 1978, no simbólico 13 de maio, quando repeliu de dedo em riste os soldados e os cães que tentavam acuá-lo, produzindo um 'não' encharcado de dignidade: "Respeitem o líder da Oposição! Baioneta não é voto e cachorro não é urna!". Ainda assim, na autobiografia que acaba de lançar, José Sarney ousou qualificar Ulysses como "um político menor". Esqueceu de dizer que, diferente de Ulysses, ele foi o político menor que disse 'sim' ao Pacote de Abril de 1977 que fechou o Congresso, que cancelou as eleições diretas para governador e que inventou o monstrengo do senador-biônico. No fecho da Constituinte, em 1988, Ulysses proclamou: "A censura é a inimiga feroz da verdade. É o horror à inteligência, à pesquisa, ao debate, ao diálogo". Hoje, nesta segunda-feira, 9 de maio, completam-se 647 dias de censura ao jornal O Estado de S.Paulo, patrocinada pela família Sarney -- agora sem baioneta e sem cachorro.
O quarto 'não', expresso pela costureira negra Rosa Parks(1913-2005), mudou a história dos Estados Unidos. Ela tinha 42 anos quando se recusou a ceder o lugar a um branco, no ônibus da cidade de Montgomery, e foi presa. O gesto incendiou Alabama e o país inteiro, que viu o primeiro boicote à segregação. Os negros começaram a andar a pé, de bicicleta, mula, carroça ou em táxis de negros que cobravam 10 centavos, a mesma tarifa dos ônibus agora vazios. A desobediência civil desatada pelo 'não' de Parks levou, um ano depois, em dezembro de 1956, à decisão histórica da Corte Suprema proibindo a discriminação na cidade, passo fundamental para garantir os direitos civis aos negros em todo o país.
Leonel Brizola também disse 'não'. Às 3h da madrugada de domingo, 27 de agosto de 1961, as luzes estavam acesas nos porões do Palácio Piratini, em Porto Alegre, para um 'não' que mudaria a história do país. O governador gaúcho não aceitou o veto dos militares à posse do vice-presidente Joao Goulart e começou ali, pelos microfones das rádios Gaúcha e Farroupilha, uma série empolgante de discursos através da rede de 104 rádios em defesa da legalidade constitucional. Foi um movimento popular tão arrebatador que o general Machado Lopes, comandante do III Exército, não conseguiu dizer 'sim' ao golpe – e, nove horas após a primeira fala de Brizola, aderiu à Campanha da Legalidade, determinando o seu sucesso pela imprevista cisão militar.
Os Estados Unidos começaram a dizer 'não' à guerra do Vietnã na pequena aldeia de My Lay. Na manhã de 16 de março de 1968, um helicóptero sobrevoou o local bombardeado e notou corpos de civis com vida. Ao aterrissar, o piloto Hugh Thompson Jr. (1943-2006) percebeu que os soldados estadunidenses disparavam em mulheres, velhos e crianças. Discutiu com o comandante da operação sobre o resgate de civis feridos numa cabana, e o oficial disse que iria tirá-los dali com granadas de mão. Num gesto inédito na história militar americano, ele apontou as metralhadoras contra o pelotão americano, avisando que iria atirar se eles não recuassem. Recuaram e várias vidas foram salvas. Mas já tinham sido mortos entre 350 e 500 civis, o maior massacre de civis na guerra do Vietnã.
Inicialmente perseguido por seus chefes, Thompson acabaria recebendo, 30 anos depois, a Medalha do Soldado, a mais alta condecoração do Exército para atos de heroísmo fora de combate. O 'não' de Thompson foi um ponto de inflexão no apoio à guerra em território americano. A partir dali, cresceram as manifestações pela retirada dos Estados Unidos do Vietnã.
O 'não' do capitão Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho (1930-1994) impediu que a tropa de elite da Aeronáutica, o Para-Sar, treinada para salvar vidas, se tornasse um esquadrão da morte. Conhecido como 'Sérgio Macaco', ele disse 'não' ao nome mais temido da FAB, o notório brigadeiro João Paulo Burnier. No tenso 1968, o brigadeiro era o expoente da linha-dura que imaginava explodir o Gasômetro, a central de gás encanado no Rio de Janeiro, ao lado da rodoviária, num momento em que 100 mil pessoas transitavam pelo local. A culpa seria jogada nos comunistas, pretexto para endurecer o regime. Apesar de ter sido preso, expulso da FAB e cassado em dezembro pelo AI-5 que ele abortou em junho, a recusa de Sérgio Macaco desarticulou o plano terrorista e salvou milhares de vidas.
Senhoras e Senhores,
Nossos poucos heróis e muitos vilões estão ao nosso alcance, com suas histórias de vida em busca de um repórter que tenha a arte de andar por aí, como prega Gay Talese, ou que se disponha a gastar a sola do sapato, como sugere Ricardo Kotscho.
Quando fui chamado para trabalhar na revista Veja em Porto Alegre, em 1971, o chefe da sucursal era Paulo Totti. Aos 32 anos, era o mais talentoso jornalista do Rio Grande do Sul, a melhor escola que um repórter poderia ter. Em dezembro de 2007, cinco meses antes de completar 70 anos, Totti conquistou o Prêmio Esso de Economia com uma reportagem sobre a China, publicada no diário Valor Econômico. O melhor jornalista gaúcho há 40 anos é ainda hoje um dos grandes repórteres brasileiros. É dele esta frase consoladora:
-- A função do repórter é a única que vai sobreviver no jornalismo do futuro. Sempre vamos precisar, no futuro, de alguém que pergunte.
Totti disse e eu completo: o importante – ontem, hoje e sempre – é duvidar e perguntar.
Espero que o título honroso que a UnB hoje me confere seja o reconhecimento não às respostas que obtive, mas às perguntas que fiz ao longo destas últimas quatro décadas.
Muito obrigado.
Discurso proferido na cerimônia de diplomação do título de notório saber do jornalista
Luiz Cláudio Cunha, concedido pela Universidade de Brasília, em 9 de maio de 2011

 25 ANOS DO MARTÍRIO DE JOSIMO TAVARES
25 ANOS DO MARTÍRIO DE JOSIMO TAVARES
Gilvander Moreira

“Feliz de um povo que não esquece seus mártires”, dizia dom Pedro Casaldáliga. Dia 10 de maio de 2011 celebramos 25 anos do martírio do padre Josimo Tavares. Por isso o recordamos.
Após tentativa de assassinato contra padre Josimo Moraes Tavares, no dia 15 de abril de 1986, quando cinco tiros foram disparados contra a Toyota dele, profundamente ameaçado de morte e de ressurreição, incompreendido até por colegas padres e agentes de pastoral, padre Josimo foi "intimado" a elaborar um relatório de suas atividades e a esclarecer as circunstâncias que levaram a tantas ameaças de morte contra ele.
Em seu belíssimo Testamento Espiritual pronunciado durante a Assembleia Diocesana de Tocantinópolis, MA, no dia 27 de abril de 1986, poucos dias antes de seu assassinato, dizia Josimo que sua morte estava anunciada, encomendada e prescrita nos anais das correntes que desejavam ardentemente eliminá-lo. Novos Anás e novos Caifás já o haviam julgado. Mas Josimo se encontrava firme, pois havia assumido o seu trabalho pastoral no compromisso e na causa em favor dos pobres, dos oprimidos e injustiçados, impulsionado pela força do Evangelho. Josimo declarou:
Pois é, gente, eu quero que vocês entendam que o que vem acontecendo não é fruto de nenhuma ideologia ou facção teológica, nem por mim mesmo, ou seja, pela minha personalidade. Acredito que o porquê de tudo isso se resume em três pontos principais.
– Por Deus ter me chamado com o dom da vocação sacerdotal e eu ter correspondido.
– Pelo senhor bispo, D. Cornélio, ter me ordenado sacerdote.
– Pelo apoio do povo e do vigário de Xambioá, então Pe. João Caprioli, que me ajudaram a vencer nos estudos.
– O discípulo não é maior do que o Mestre. Se perseguirem a mim, hão de perseguir vocês também." Tenho que assumir. Agora estou empenhado na luta pela causa dos pobres lavradores indefesos, povo oprimido nas garras dos latifúndios. Se eu me calar, quem os defenderá? Quem lutará a seu favor? Eu pelo menos nada tenho a perder. Não tenho mulher, filhos e nem riqueza sequer, ninguém chorará por mim. Só tenho pena de uma pessoa: de minha mãe, que só tem a mim e mais ninguém por ela. Pobre. Viúva. Mas vocês ficam aí e cuidarão dela. Nem o medo me detém. É hora de assumir. Morro por uma justa causa. Agora quero que vocês entendam o seguinte: tudo isso que está acontecendo é uma conseq uência lógica resultante do meu trabalho na luta e defesa pelos pobres, em prol do Evangelho que me levou a assumir até as últimas consequências.
A minha vida nada vale em vista da morte de tantos pais lavradores assassinados, violentados e despejados de suas terras. Deixando mulheres e filhos abandonados, sem carinho, sem pão e sem lar. É hora de se levantar e fazer a diferença! Morro por uma causa justa.
Mas ele não imaginava que a morte viria tão cedo. Dia 10 de maio de1986 foi assassinado covardemente enquanto subia as escadas do prédio da Mitra Diocesana de Imperatriz, MA, onde funcionava o escritório da CPT Araguaia-Tocantins. Ainda teve forças para entrar no hospital andando.
Padre Josimo era coordenador da Comissão Pastoral da Terra – CPT – no Bico do Papagaio. O pistoleiro Geraldo Rodrigues da Costa efetuou dois disparos com uma pistola de calibre 7,65. Para executar Josimo contou com a participação de Vilson Nunes Cardoso, que até hoje está foragido.
Em 1993, nova denúncia, apontou como mandantes do assassinato de Padre Josimo, Geraldo Paulo Vieira, Adailson Vieira, Osmar Teodoro da Silva, Guiomar Teodoro da Silva, Nazaré Teodoro da Silva e Osvaldino Teodoro da Silva e João Teodoro da Silva. Em 1998 Adailson Vieira, Geraldo Paulo Vieira (pai do Adailson) e Guiomar Teodoro da Silva foram julgados e condenados. Os dois primeiros foram condenados a 19 anos de reclusão e Guiomar, a 14 anos e 3 meses. João Teodoro da Silva faleceu antes de ser levado a julgamento. Geraldo morreu alguns meses depois da sentença. Osmar Teodoro da Silva ficou foragido durante anos, sendo capturado pela polícia somente em 2001, depois de ter sido alvo do programa Linha Direta, na TV Globo. Em setembro de 2003, ele foi condenado, por unanimidade, a 19 anos de reclusão.
Geraldo Rodrigues da Costa, o executor do crime, foi condenado, em 1988, a 18 anos e 6 meses de reclusão. Conseguiu fugir da penitenciária por três vezes, mas, depois da última fuga, nunca mais fora encontrado. Há informações de que faleceu durante fuga após um assalto na cidade de Guarai, TO.
Em 2006, Claudemiro Godoy do Nascimento, no artigo “20 anos com Josimo”, recordava:
Há 20 anos atrás, o Brasil vivia momentos de transformações políticas e econômicas que dinamizavam o cenário das relações políticas. Na região do Bico do Papagaio a situação não se diferenciava. Com o anuncio do fim do regime ditatorial havia uma rearticulação política das oligarquias rurais na chamada Nova República. A luta social se encontrava diante de fortes momentos de tensão e conflito por parte de fazendeiros e trabalhadores rurais que tinham na Igreja, na CPT, nos sindicatos e nos novos movimentos sociais do campo uma esperança em ver realmente a Terra partilhada para todos e todas. Josimo é a testemunha fiel e nos ensina de que vale a pena dar a vida pela causa do Reino, das comunidades e do povo. Sua morte significou o compromisso assumido em denunciar as estruturas de morte alimentadas pelas injustiças políticas de mandos e desmandos de uma oligarquia rural que ousava (ou ainda ousa) se estabelecer no poder da República. É neste sentido que Josimo se torna o padre mártir da Pastoral da Terra ao selar com seu sangue uma opção, um compromisso e um engajamento na defesa dos oprimidos, em especial, os trabalhadores rurais. Poderíamos relembrar os versos de Pedro Tierra escritos por ocasião do martírio de Padre Josimo em maio de 1986: Quem é esse menino negro / Que desafia limites? / Apenas um homem. / Sandálias surradas. / Paciência e indignação. / Riso alvo. / Mel noturno. / Sonho irrecusável. / Lutou contra cercas. / Todas as cercas. / As cercas do medo. / As cercas do ódio. / As cercas da terra. / As cercas da fome. / As cercas do corpo. / As cercas do latifúndio.
Diante de tanta fé e de uma teimosia do Reino inexplicável, Josimo sentia-se fortalecido pela experiência de Deus, pois se encontrava dentro do próprio Deus. Com certeza, Josimo fez a experiência de Deus que somente os grandes místicos da humanidade fizeram. Um homem que chega a ponto de saber que terá seu sangue derramado em defesa dos pobres e pela causa do Reino só pode ter tido a experiência concreta do Deus que se fez gente entre os homens e mulheres.
Para Josimo ser padre significava sentir a vida brotando como serviço justo a Deus e aos pobres, sobretudo. Para ele, o culto, a eucaristia, a teologia do sacrifício significava o agrado que fazemos a Deus no serviço aos pobres, aos doentes e marginalizados da sociedade. Percebemos nos escritos, nos poemas e nos registros de Josimo uma profunda intimidade com sua opção primeira, a saber: a Diakonia, ou seja, o serviço, o estar sempre servindo aos mais necessitados. Necessitados do Bico do Papagaio eram os trabalhadores rurais expulsos e espoliados da terra pelos grandes fazendeiros locais e pelos políticos ao estilo coronelista. Portanto, ser padre Josimo era ser Profeta na Justiça, Pastor na Caminhada e Sacerdote humilde que procurava oferecer a Deus oferendas justas. Josimo é a própria oferta. Tornou-se um ofertório vivo para nossas comunidades e para a construção do Reino.
Com certeza, a memória dos 23 anos do martírio de Padre Josimo nos traz à luz a experiência das CEBs – Comunidades Eclesiais de Base -, da Igreja Povo de Deus, Igreja Povo Novo enquanto sinal do Reino de Deus no mundo. Novos Josimos só surgirão quando a Igreja novamente for sinal vivo do Reino de Deus, quando estiver ao lado dos pobres e oprimidos, dos fracos e perseguidos; quando denunciar as injustiças e as opressões cometidas contra o povo; quando anunciar a esperança, a fé, o amor e a alegria aos pobres.
10 de maio de 2009 são 23 anos com Josimo. Ele continua vivo. Vivo nas memórias do povo, nas experiências dos educadores populares, nos escritos da Teologia da Libertação e no compromisso dos poucos agentes de pastorais que continuam reafirmando o mesmo compromisso com o Reino, com a causa de um novo mundo, com a justiça social e a solidariedade para com os excluídos da sociedade. Vivo no martirológico latino-americano, alternativo por excelência, sem nenhuma ligação e reconhecimento por parte da estrutura eclesial oficial. A história não pode perder a figura de Josimo. Ele é importante na história porque promoveu com o povo a história. Com Josimo, os dominados contam suas histórias. Com Josimo, a história não é na lógica da classe dominante. Com Josimo, os dominados são os sujeitos históricos.
O nome de Padre Josimo está hoje em centenas de Acampamentos de Sem Terra, em centenas de Assentamentos de Reforma Agrária e em centenas de Comunidades Eclesiais de Base. Ele está muito vivo e presente nos corações e na mente de milhões de pessoas que lutam para que a Mãe terra seja libertada das garras do latifúndio e partilhada com milhões de sem-terra através de uma autêntica reforma agrária.
Algumas pessoas nos alertam perguntando: "Por que valorizar tanto ou exclusivamente o martírio, o sofrimento...?" Devemos ser criteriosos para não incentivarmos um martírio voluntário. É claro que existem tantas pessoas que de mil e uma formas, e não raro, mais eficazes e abrangentes, dão testemunho, dinamizam a vida, atuam na cidadania e constroem o bem comum. Não podemos também jamais esquecer a memória dos inúmeros mártires da caminhada. Ai de um povo que esquece os seus mártires.
Belo Horizonte, 10 de maio de 2011, 25 anos com padre Josimo Tavares vivendo vida plena.
Referências:
LE BRETON, BINKA; Todos Sabiam, a morte anunciada do Padre Josimo, Ed. Loyola, São Paulo, 2000, pp. 129-130.
Gilvander Moreira é frei e padre carmelita, mestre em Exegese Bíblica,
professor de Teologia Bíblica; assessor da CPT, CEBI, SAB e Via Campesina

 DIREITOS HUMANOS NA CIDADE DOS EXCLUÍDOS
DIREITOS HUMANOS NA CIDADE DOS EXCLUÍDOS
Estratégia de cidadania
Gina Ferreira

Introdução
Este artigo apresenta reflexões sobre um projeto constituído por estratégias no campo da intervenção comunitária, voltadas para facilitar a inserção social de pacientes de longa permanência, originários de um macro hospital psiquiátrico em vias de fechamento. O objetivo maior deste artigo é suscitar reflexão sobre o conjunto de ações que implicam na esfera dos Direitos Humanos o enfretamento de questões sociais como: o desemprego, a baixa renda e a desigualdade social, fatores que afetam todo um país, refletindo-se em suas comunidades, decorrentes da falta de investimento em políticas sociais e cujos efeitos atingem, sobretudo, a área de saúde. Estes indicadores, geradores de carências sociais, são capazes de alterar gravemente o bem estar de uma comunidade, mudar seu perfil e criar uma cultura de exclusão, tal como aconteceu no Município de Paracambi, lócus do projeto aqui analisado.
Para isso, devemos partir do pensamento que Direitos Humanos e Cidadania são uma única célula e que compreende a cidade como espaços de relações humanas não excludentes, espaços coletivos de política e sociabilidade para a realização de uma cidade estruturada em ações de investimento ao desenvolvimento humano, facilitadoras de relações que devem promover o bem estar.
Apesar de ser uma experiência piloto, ainda em processo de construção, é importante que seja compartilhada e possa ser discutida, contribuindo para o avanço de iniciativas neste campo e do aparato conceitual que lhe dá sustentação em sua viabilização.
Políticas de Proteção Social: contextualização
Poderíamos dizer que os primeiros passos da proteção social surgem no século XIX, na cidade de Ouro Preto, no Estado de Minas Gerais, através da organização de uma cooperativa de trabalhadores. Os cooperados teriam direito a caixão e velório dando dignidade pelo menos à “hora de morrer” (Mesquita, Paiva, Filho e Martins, 2007).
A seguridade social surgida a partir do século XX, já no Estado Republicano, tem como princípio o acesso exclusivo dado a seus associados; entendendo os benefícios como retorno da contribuição salarial. Com a organização de trabalhadores industriais, aumentam as reivindicações por proteção social sem, no entanto, abrangerem os riscos sociais (doença, morte, acidentes) como responsabilidades do Estado. Em 24 Janeiro de 1923 a assistência médica passa a ser a base fundamental de proteção social ,através da aprovação da Lei Eloy Chaves – Decreto nº 4.682 , que regulamenta as Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPs) em cada uma das empresas de estradas de ferro no país para os respectivos empregados, incluindo direito à assistência médica, descontos nos preços de medicamentos, aposentadorias e pensões . A iniciativa legal, através do Decreto acima, confere ao Estado Republicano a responsabilidade na regulação de benefícios, principalmente da assistência médica. No entanto, o custo deste benefício era mantido com 3% dos vencimentos dos servidores e 1% da renda bruta da empresa e de consumidores de seus produtos (Cordeiro, 2004).
Posteriormente, já a partir de 1930, a regulação das relações de trabalho, comparece como um dos marcos na política de saúde na era desenvolvimentista de Vargas . Em seu governo são criados — através do Decreto n° 22.872, de 29 de junho de 1933, os Institutos de Pensão e Aposentadoria de acordo com cada categoria trabalhista (bancários, comerciários, marítimos) e entre os quais, de forma progressiva, são incluídas as CAPS.
Os benefícios concedidos além da aposentadoria para os associados dos Institutos incluíam pensão, em caso de morte, a membros da família, mas também, em alguns casos, concedia-se internação e ajuda hospitalar por trinta dias além de socorros farmacêuticos, como por exemplo, aos associados à Caixa de Pensão dos Marítimos. Nesse Decreto a contribuição de cotas era chamada tripartite, ou seja, compreendia empregador-empregado-governo. Pode-se dizer que, por estas medidas, se concretiza a previdência social no Brasil.
O sistema de proteção social é consolidado sob a forma de seguro dos trabalhadores, garantido em Lei pelo Decreto nº 72, de 21 de novembro de 1966, período da ditadura militar (1964-1984). Este reuniu os Institutos de Pensionistas e Aposentados no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Através desse sistema, consolida-se a exclusão social dos indivíduos fora do mercado formal de trabalho. Tem-se por esta medida o sistema de cidadania regulada tão bem conceituada por Santos (1979), em que a falta de universalização da assistência médica hospitalar aos desempregados e/ou trabalhadores informais cria uma cisão social: a assistência à saúde voltada somente para aqueles que pertencem ao mercado formal de trabalho e aos outros, a caridade a cargo de entidades religiosas e filantrópicas como as Santas Casas de Misericórdia.
Nesta mesma época (1964/1984) ocorre uma pretensa modernização institucional e financeira, mascarando as deficiências nas áreas da saúde, educação e saneamento básico. O Estado privilegiava políticas públicas firmadas na centralização das decisões do executivo federal, na diminuição gradativa dos recursos destinados à área social, na fragmentação institucional e na privatização do espaço público. Estas ações, enquanto geradoras de crescimento na oferta de bens e serviços, representaram um retrocesso nas políticas sociais. Na área da Saúde, este retrocesso ganha força durante a década de setenta, pelo domínio financeiro previdenciário com a criação do INPS e pelo incentivo ao setor privado, que resulta no mercantilismo da saúde.
No entanto, no final do período ditatorial (fins da década de 70 e meados década de 80), a crescente reivindicação por direitos sociais faz eclodirem movimentos organizados, que transformam as questões de ordem social em acontecimentos políticos concretos, produzindo demandas para a efetivação de uma política social pautada pelo sistema democrático, desejado para a vida pública do país.
Redefinição do Setor de Saúde como Política Social
Em 1985, com o fim do regime militar, configura-se o início de uma promessa de redemocratização, com expressiva proposta de transformação no campo da política social de saúde, prosseguindo-se através da 8ª Conferência Nacional da Saúde em 1986.
A intenção do evento era promover a saúde, tomando por base a melhoria das condições da qualidade de vida da população através do reordenamento de políticas sociais como educação, moradia, alimentação, bem como o direito à liberdade, cabendo ao Estado o papel de facilitador dessas condições. Reivindicava-se a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) com a separação do Ministério da Saúde e o da Previdência Social. Este sistema estabelece diretrizes que permitiriam construir as bases essenciais das reformas sanitária e psiquiátrica, promovendo de maneira objetiva, a reformulação do setor de saúde com propostas efetivas de redefinição das demais políticas sociais. O lema defendido é “a saúde como um direito de todos”e são adotados os seguintes princípios básicos: Universalidade; Descentralização e o Controle Social.
A partir da 8ª Conferência foi elaborado um Projeto Constitucional para ser apresentado na Assembleia Constituinte (Neto, E. Rodrigues: 1988), que resultou na concepção da saúde como direito universal e na criação do Sistema Único de Saúde, condizente com os princípios democráticos de descentralização e participação popular. Também foi estabelecida para o setor privado uma política que garantia a obediência às normas do Poder Público, conforme à Constituição Nacional aprovada em 1988. A Lei Federal nº 8080 que criou os Sistemas Únicos de Saúde foi promulgada em 19 de setembro de 1990.
A Constituição de 88 dá consistência legal aos Direitos Sociais em seu artigo 6º que estabelece como direitos, garantia para todos “à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à previdência social, à previdência a maternidade, à infância”(2002). Estabelece também o salário mínimo unificado e a vinculação deste ao piso dos benefícios previdenciários, não podendo o benefício ser inferior ao salário mínimo ou substituir o rendimento do trabalho do segurado.
É importante destacar a relevância da 8ª Conferência Nacional de Saúde, para o estabelecimento dos fundamentos que embasaram a 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 1987. No encontro são apresentadas denúncias da violência e dos maus tratos a que estão expostos os internos dos hospitais psiquiátricos. Exige-se a Reforma Psiquiátrica. Para tanto se indicam propostas, que implicam na inversão do modelo hospitalar custodial, através da progressiva diminuição de leitos hospitalares.
Em 1990, a Organização Panamericana de Saúde promove a Conferência Regional voltada para a reestruturação da psiquiátrica na América Latina, qual resultou a Declaração de Caracas destacando forte crítica ao papel hegemônico do hospital psiquiátrico e exigindo a preservação da dignidade pessoal e os direitos humanos e civis nos recursos oferecidos (...) (OPAS, 1994).
Com os resultados dessa Conferencia e substanciada no SUS, a política de saúde mental em 1990 inicia a Reforma da Assistência Psiquiátrica em direção a construção de novas formas de pensar e fazer saúde. No entanto, é à partir de 1992 que a Reforma Psiquiátrica ganha características mais definidas no campo sócio-político. Isto se faz evidente durante a 2ª Conferência, quando há uma expressiva presença de representação popular, composta por usuários dos serviços em saúde mental, que questionam o saber psiquiátrico e o dispositivo tecnicista, frente a uma realidade que só eles conhecem. Pedem o fim do manicômio através da criação de equipamentos e implementação de recursos não manicomiais como centros de atenção diária, residências terapêuticas, e cooperativas de trabalho, como dispositivos da rede pública de assistência à saúde mental.
Apresentam-se então os princípios fundadores da Reforma Psiquiátrica, expressos pelo desafio ético, presente em todos os domínios da vida. Fortalecidos pelo contexto político-ideológico das novas propostas, se multiplicam as denúncias sobre a péssima qualidade da assistência prestada nos hospitais psiquiátricos, exigindo-se o fechamento dos macro-hospitais, ao mesmo tempo em que se inicia a planificação do novo modelo de assistência. Este seria norteado pela construção de novos dispositivos terapêuticos, priorizando a inclusão social e permitindo visualizar a desconstrução dos manicômios. O processo estratégico para o desmonte da cultura institucional, fundamenta-se no conceito estratégico da desinstitucionalização. Em 2001 há a aprovação da Lei Federal nº. 10.216, de 6 de abril, instituindo a reorientação do modelo assistencial e regulamentando a internação psiquiátrica compulsória. O espírito da Reforma Psiquiátrica se expressa forma clara nesta Lei:
II – Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;
A breve exposição do contexto histórico político, criou as premissas necessárias para a apreensão da proposta deste trabalho — relatar experiência de intervenção social, constituída como suporte à desistitucionalização de pacientes psiquiátricos, com histórico de longa internação, durante processo de fechamento do maior hospital psiquiátrico do país, localizado no município de Paracambi.
A cidade e o manicômio
O município de Paracambi tem 43.011 habitantes distribuídos em área de 186,8 Km2. Localizado na região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, dispõe de poucos recursos orçamentários, tendo sofrido com a falência, quase que simultânea, das grandes empresas que movimentavam a economia local, com maior relevância para a Fábrica Brasil Industrial, fundada em 1874. Esta era responsável pela canalização da água, pela luz elétrica e mais tarde pela construção de escola, clubes e usina elétrica. Outras indústrias localizadas no município utilizavam 1250 operários. No total, o município possuía quatro indústrias que geraram desenvolvimento e emancipação político-econômica e social, em 1960 (GULJOR, VIDAL: 2008).
Com a falência industrial no Município, coincidentemente surge o grande manicômio, considerado o maior asilo hospitalar da rede privada, na América Latina (Casa de Saúde Dr. Eiras). A entidade passa a ser o pólo empregador do município e se institui no imaginário popular como centro de convergência da economia local. É procurado tanto pelos que buscam empregos quanto pelos que buscam, no diagnóstico psiquiátrico, a possibilidade de benefícios. Chegou a gerar 800 vagas de emprego e ocupar o lugar de maior contribuinte tributário, comparecendo com 35% da receita municipal. Instaura-se no município uma cultura asilar, cimentada no sofrimento humano. A cidade perde seu instrumento de poder social transferindo o seu centro de poder. As festas cívicas e culturais da localidade passaram a ser realizadas no espaço interno da Casa de Saúde e não mais em praças públicas, ao mesmo tempo em que os quatro cinemas locais, equipamentos usados como fonte de lazer, não conseguem subsistir, indo a falência até seu fechamento.
A Casa de Saúde Dr. Eiras passa a nortear o modo de vida da cidade imprimindo um outro olhar sobre si própria e sobre o hospício, que passa a ser o seu retrato abstrato. Este fato pode ser apreendido pelo conceito de estrutura, semelhante à que Max Weber chama de “cidade principado” (1979), ou seja, uma cidade onde a capacidade produtiva de seus habitantes depende direta ou indiretamente do poder aquisitivo da grande propriedade do príncipe. No caso aqui analisado, o município depende direta ou indiretamente do grande manicômio. A Casa de Saúde Dr. Eiras de Paracambi é um macro hospital psiquiátrico conveniado com o SUS, chegando a abrigar 2.500 pacientes na década de 80.
Pelas condições degradantes que oferecia aos internos foi decretada intervenção técnica e gerencial na Instituição por exigência do Ministério Público, em 17 de junho de 2004, praticamente três décadas depois de sua implantação. A medida contou com o apoio e a articulação das três instâncias executivas do Sistema Único de Saúde — Município, Estado e União.
Segundo relatório técnico da equipe que fez parte do processo de intervenção, apresentado em dezembro de 2004, a situação encontrada ao chegarem à Casa de Saúde Dr., Eiras de Paracambi, ultrapassava o limite do não humano. A parte física do manicômio continha habitações sem janelas, mal ventiladas, refeitórios escuros e com estruturas em cimento aparente, pátios internos estreitos com piso em declive direcionados a uma canaleta central destinada ao escoamento de excrementos, depositados rotineiramente no chão. Os colchões e roupas de cama eram em menor número do que o contingente de pacientes. Os internos estavam em sua maioria comdesnutrição nutricional, em péssimas condições de higiene e sanitárias que agravavam o curso endêmico de infecções Também se apresentavam despidos e com marcas corporais reveladoras da extrema violência das práticas institucionais (Levcovitz). Este quadro de horrores foi revelado também pela mídia nacional, A sociedade brasileira exigiu uma posição mais urgente do Governo. Já se encontrava em curso, através de gestores do Sistema Único de Saúde assim como de representantes do Ministério Público, medidas implementadas para executar a intervenção técnica e gerencial.
Intervenção Comunitária
Para além das medidas internas ao processo de fechamento da Casa de Saúde, viu-se a necessidade de ampliar o olhar da desinstitucionalização, extramuros. Seria fundamental envolver todos os atores locais, para que tivessem um compromisso real e fossem partícipes da nova situação.
Uma vez que o retorno à sociedade é a orientação das políticas públicas em saúde mental, o manicômio em Paracambi, atualmente, está sendo gradativamente desocupado e substituído por uma rede de serviços independentes, como por exemplo, a construção de 21 residências terapêuticas. Essa nova perspectiva de vida, que implica em construir novos espaços e devolver aos antigos moradores da Casa de Saúde uma participação integrada na cidade, exige compromissos e posições que enfrentem os desafios trazidos pela reconstrução do novo paradigma da assistência psiquiátrica e de sua planificação.
A cidade, com seus territórios e comunidades, passa a ser entendida como recurso terapêutico e como referência imprescindível na construção das relações sociais. Atividades que permitam maior trânsito dos antigos moradores da Dr. Eiras, no espaço urbano, fazem da cidade um importante protagonista no processo de reabilitação pretendido e na recuperação das condições de cidadania.
Segundo a reflexão de Garcia, durante a Primeira Jornada sobre Direitos Humanos e Saúde, o tema sobre os direitos dos grupos com maior precariedade social é visto com indiferença pelos mais privilegiados por não se identificarem com essa realidade. Para uma eficaz estratégia de política de integração social, seria indispensável uma intervenção na comunidade que toque/transforme o imaginário social, para que as reivindicações possam ser assumidas como compromisso por todos, estabelecendo-se assim uma pauta de condutas públicas marcada pela cidadania. A cidadania implica na relação de compromisso com a cidade; implica na forma pela qual ela se desenvolve. Uma cidade pode ser considerada humanizada quando esse desenvolvimento corresponde às necessidades reais de seus habitantes (Veciana, I. & Olivé, R.: 2002).
O contexto social da cidade de Paracambi ,sofreu por décadas influência de um poder negativo propiciando a produção de doenças e desajustes sociais tanto no real quanto no simbólico das representações da comunidade sobre a cidade e sobre si próprios.
O fechamento e quebra financeira sucessiva das unidades fabris, que fortaleciam o poder social e mantinham relações sócio-afetivas no cotidiano da comunidade, criou um perfil de passividade entre os moradores, sem questionamento ou reflexão crítica, frente aos problemas sociais. Kelly e outros (in Sanchez: 2007) “define a intervenção comunitária como influência na vida de um grupo, organização ou comunidade para prevenir ou reduzir a desorganização social e pessoal e promover o bem estar da comunidade” . Considerando essa definição tornou-se importante uma abordagem de mediações na comunidade onde se conjugam multiplicidade de ações, com potencialidade para resgatar habilidades e superar adversidades, propiciando a conquista de direitos. Em Paracambi a falência das fábricas traz a concentração do desemprego, causando o desequilíbrio econômico e social, e a única alternativa possível passa a ser um grande manicômio tanto na oferta de trabalho quanto na seguridade social. Não houve efetividade na promoção da qualidade de vida da população, tanto do ponto de vista econômico, social ou emocional.
Uma abordagem sistêmica trabalharia a reintegração de forma global sem fragmentação dos grupos societários. Segundo Camarotti (2005) a concepção sistêmica percebe o mundo através de relações e integração, valoriza o todo e as relações com as partes que o constituem. Sendo assim o todo é o resultado de uma relação com seus constituintes e não com a soma deles.
A utilização de estratégias de empoderamento na intervenção comunitária torna-se importante, uma vez que atinge o ponto crucial de transformação, ou seja, o desenvolvimento da autonomia. Esta significa a capacidade dos indivíduos e grupos poderem decidir sobre as questões que lhe são próprias, seja através do campo político, cultural ou econômico. Dessa forma, empoderar, nesta concepção, significa também abrir canais de participação da vida institucional em espaço público e distribuir forças de poder, dos mais fortes para os menos favorecidos. Nesse sentido qualquer ação emancipatória deve estar junto às demandas sociais, seja através dos sujeitos, ou das organizações, significando resistência à dominação e contribuindo para a equidade social.
O projeto: Cinema na Praça
Em 2004, época em que se inicia a intervenção na Casa de Saúde Dr. Eiras e frente a nova contingência da retirada gradativa dos pacientes da instituição para habitarem casas populares alugadas pela prefeitura do município, verificou-se a importância de se construir projeto de inclusão ao convívio social. Este projeto é voltado para os pacientes internados, em processo de alta, e também deveria motivar a reflexão e possibilitar o esclarecimento sobre as condições de vida dos portadores de sofrimento psíquico, como forma de transformar a maneira como a sociedade lida com a loucura e com as pessoas vinculadas ao manicômio.
Utilizando o cinema como instrumento de intervenção para modificar o imaginário social sobre a loucura e sobre os meios de tratamento excludentes, o projeto busca trazer a inclusão social para um grupo duplamente excluído – pelos longos anos de asilamento forçado, cronificados por uma prática de total afastamento do convívio social, e também vitimados pelo preconceito que a desinformação sobre o sofrimento psíquico provoca na sociedade.
O projeto está no momento em sua terceira e última fase de realização, A primeira edição consistiu em se exibir mensalmente, uma seleção de filmes brasileiros, escolhidos por uma competente curadoria, na principal praça da cidade de Paracambi. Equipamentos de ótimo nível garantem uma projeção de qualidade, que funcionam como catalisadores para o encontro entre a população local e os usuários da Casa de Saúde Dr. Eiras, portadores de sofrimento psíquico. Nesse espaço de convívio em torno de uma atividade cultural, da qual a região é carente, a interação entre esses dois grupos, separados por décadas, propicia uma transformação que vem de encontro à valorização da cidadania, sob a forma de aceitação e solidariedade. Também desejávamos que a conexão entre intervenção e cinema, proporcionasse outros efeitos e que a experiência vivida construísse o dialogo com o mundo, o ser humano e a natureza. Para isso seria importante que os nossos objetivos não fossem totalmente restritos, mas que se deixassem seguir livremente, sem fronteiras e sem fim, como o conceito imagem definido por Cabrera (2006). Este conceito concerne em viver uma experiência “sem contornos totalmente nítidos e definitivos, uma espécie de encaminhamento no sentido de, “pôr-se a caminho” numa direção compreensiva, mas sem fechá-la, e que a experiência vivida levasse a um impacto emocional”.
As sessões foram realizadas em um sábado por mês, durante doze meses. Percorríamos os pavilhões da Casa de Saúde Dr. Eiras e reuníamos os pacientes previamente escolhidos pelos coordenadores. Um dos critérios de participação no projeto, definido pela equipe da instituição, era que seriam participantes das sessões, os pacientes que não estivessem em crise e desejassem ir ao cinema, incluindo aqueles de difícil locomoção. Nosso contato com os pacientes, antes das sessões de cinema, tinha a finalidade de estabelecer vínculos com o grupo, conversando sobre o filme para facilitar a compreensão. Também era importante que soubessem que a nossa responsabilidade de levá-los ao evento, seria compartilhada com eles de forma natural e dentro das possibilidades de cada um. Em seguida, eram conduzidos pelos cuidadores ou auxiliares de enfermagem (dois encarregados para cada oito pacientes) à portaria da instituição, onde um ônibus contratado pelo projeto os aguardava. Ao mesmo tempo uma Kombi percorria os pavilhões onde existiam pacientes com deficiências físicas mais severas, e os levava à praça. Esta estava adequadamente arrumada pela equipe técnica do núcleo de projeção, para comportar estes pacientes,
As ações do projeto se completam nesta fase, como dito anteriormente, com uma curadoria de cinema tendo como objetivo a seleção criteriosa dos filmes. As sessões, fotografadas em tecnologia digital, para documentação ao longo do processo, geraram uma exposição para tornar público todo o processo do evento fotográfico. Para avaliar o impacto das exibições no imaginário social da comunidade local sobre a loucura e sobre a presença dos internados na vida da cidade, foi estruturada uma pesquisa de opinião pública, que comentaremos mais adiante.
Efeitos do cinema
O cinema além de seu caráter específico de meio de comunicação, é considerado por vários teóricos como um forte instrumento de ação política. Para Carrière (1994), os filmes não existem apenas na tela e no instante de sua projeção. Eles se mesclam às nossas vidas, influem na nossa maneira de ver o mundo, consolidam afetos, estreitam laços, tecem cumplicidade. Marina, durante seu longo tempo de internação, frequentemente apresentava sintomas de auto e hetero agressão, talvez movida pela angústia de não sentir o próprio corpo. Ainda, levada pelo desespero de sentir a vida dolorosamente vazia ou mesmo ausente, batia a cabeça sobre as paredes ou pedia às companheiras que fosse ferida com uma pedra. Certamente não era nunca escolhida pela equipe de seu pavilhão para ir ao cinema. Em uma das vezes em que percorríamos o pavilhão ao passar por ela reparamos que estava bem vestida, aguardando para ir ao cinema. No entanto, fomos prevenidos pela equipe que por seu comportamento não era aconselhável sua inclusão no grupo de expectadores. Retiramos-nos e ao longe, escutávamos os gritos de Marina: “Cinema, cinema, quero cinema”. Esta atitude parecia algo mais que mera imitação de comportamento, repetição de palavras ditas por outras companheiras ou mesmo um simples desejo de sair da enfermaria, mas parecia sim, nos pedir cumplicidade para crer em direitos, igualdade, humanidade e vida. Decidimos buscá-la e assumir a responsabilidade frente à equipe do pavilhão. Durante a sessão Marina assistiu silenciosamente, e, de forma gentil, ofereceu pipoca às companheiras próximas dela. Foi solidária, foi humana, foi cúmplice. Não faltou mais a nenhuma sessão de cinema.
Se para o projeto de intervenção comunitária utilizamos o cinema como instrumento, obtemos como recurso, a força das imagens expostas na tela. Isso ficou patente na reação de uma paciente na apresentação do filme “Deus é Brasileiro” de Cacá Diegues. Durante a cena em que caía forte pancada de chuva, a paciente que acompanhava o filme com grande atenção, num “gesto de fidelidade à imagem” , deixou uma de suas mãos deslizar ao lado da cadeira até alcançar o interior da bolsa apoiada no chão. Dali, retirou o guarda chuva e o abriu, permanecendo abrigada, quase imóvel, até que num dado momento a cena se transforma e o céu aparece límpido na tela. A paciente/expectadora fechou o guarda chuva e o guardou novamente na bolsa, voltando o olhar, tranq uilo e fiel à imagem na tela. Quando, encerrado o filme, a paciente foi indagada, por uma colega de equipe, sobre o motivo de seu gesto – “Você abriu o guarda chuva porque estava chovendo?” – “Mas a chuva era dentro ou fora do filme?”. Ela respondeu com ar perplexo: ”No filme é claro!” A imagem foi tão forte, que antecedeu a palavra tornando-se a sua metáfora. Reconhecido como arte em movimento por Júlio Cabrera (2006), plateia e personagem interagem e contracenam silenciosamente.
A Opinião da Cidade: avaliação
A pesquisa de opinião pública foi realizada em três etapas, uma antes da primeira sessão de cinema, uma logo no início do projeto e outra logo após o 12º mês, para avaliar o resultado dessa interação e sua influência sobre a representação da loucura no imaginário popular. Para o levantamento de dados foi realizada pesquisa quantitativa ,através de questionário estruturado , contendo perguntas abertas e fechadas. O universo da pesquisa foram moradores de Paracambi, totalizando 800 entrevistas, (20% da população total) realizadas em pontos de fluxo, segmentadas por idade e número de habitantes por região pesquisada, o que possibilitou 95,5% de coeficiência nos resultados. Vale ressaltar que os entrevistados (homens e mulheres) possuíam mais de 20 anos de idade, sendo todos moradores do município de Paracambi e não apresentavam vínculo empregatício nem com a Prefeitura Municipal e nem com a Casa de Saúde Dr. Eiras. Foram segmentados conforme o Censo IBGE 2000. Apresentamos abaixo, a tabela de perfil dos entrevistados:
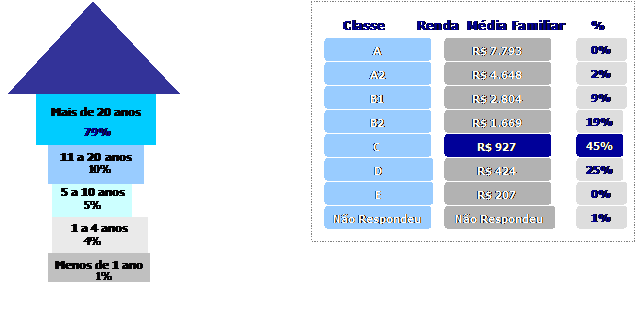
Tempo
q Reside em
Paracambi
Região
|
Entrevistados |
Lages |
302 |
Amapá |
16 |
Cascata |
8 |
Capinheira/Raia/Quilombo |
32 |
Zona Rural |
16 |
Bom Jardim |
8 |
Jardim Nova Era |
32 |
Guarajuba |
64 |
BNH |
40 |
Sabugo/F.Sabugo/Vila Nova NovaNovaNova |
80 |
Centro/Cope/Fábrica/Barreira |
202 |
Total |
800 |
Antes da realização efetiva do trabalho de campo que resultou nos dados obtidos, foi feito um pré-teste para verificar a adequação do instrumento de coleta de dados. Depois de realizado esse processo de aplicação dos questionários no pré-teste, algumas perguntas foram inseridas e/ou modificadas. Todo o trabalho foi supervisionado por equipe especializada, tanto em campo, quanto, posteriormente também no escritório, na análise dos resultados obtidos. O objetivo era eliminar qualquer erro contido na coleta de dados, uma vez que o questionário deve se referir à amostra, ser legível, perfeito, coerente e claro. Uma vez concluído o trabalho de coleta de dados e avaliação crítica de todo o material obtido, 20% da amostra, por região territorial, foi analisado, antes que os resultados fossem codificados e houvesse a digitação dos questionários.
Dos dados colhidos obtivemos os seguintes resultados:
Pessoas consideradas anormais pela sociedade poderiam freqüentar a comunidade |
89% |
Para ajudar o tratamento deveriam realizar atividades como pintar, estudar, plantar e etc |
96% |
Consideraram que o doente mental tem o direito de freqüentar o lazer comunitário como praças, shows, exibição de filmes |
95% |
Os loucos são agressivos |
32% |
Os loucos são capazes de trabalhar |
45% |
Consideraram péssima a Casa de Saúde Dr. Eiras justificada por descuido e maus tratos aos pacientes |
75% |
Consideram as residências terapêuticas equipamentos de qualidade para o tratamento psiquiátrico |
85% |
Concordam com o fechamento da Dr. Eiras e a transferência dos pacientes para as residências terapêuticas |
63% |
Conhecem o projeto Cinema na Praça |
94% |
Consideram o projeto Cinema na Praça muito importante |
89% |
Opinaram sobre a intervenção e chegaram a conclusão que a palavra fechamento é forte e significativa |
84% |
48% por considerar que a convivência com a população ajuda no tratamento e ficam mais sociáveis |
41% por considerar o Cinema lazer, cultura dando a eles o mesmo direito que o resto da população |
Pode-se verificar que há um consenso sobre a inserção dos pacientes nas atividades propostas e sobre o projeto. Ressalte-se que 32 % ainda consideram os “loucos” agressivos, mas estão dentre os 90% que aceitam a integração dos pacientes em várias atividades comunitárias.
Do Principado ao Estado de Direito.
A palavra “fechamento” para a cidade de Paracambi traz à memória a exclusão e, como conseq uência a marginalização social, vivida pela população do município, como resultado do “fechamento” das fábricas e o sofrimento pela ausência de mercado de trabalho dinâmico na localidade aqui citada.
Considerado este indicador, foi realizado junto à equipe de saúde coletiva, um diagnóstico situacional nas regiões de maior precariedade sócio econômica cultural do município:. Constatou-se nos resultados a presença de altos índices de diabetes, de hipertensão arterial, de abuso de álcool e outras drogas, de casos de violência doméstica e abuso sexual infantil, alta demanda de busca por benefícios, negligência no uso da medicação com propósito de obtenção de benefícios sociais de aposentadoria, causando incidência de óbitos por AVC. Tornou-se fundamental a construção de uma rede de recursos internos e externos ao município que pudesse conduzir processos de mudança na qualidade de vida do conjunto da população de Paracambi.
Na segunda fase do projeto ficou evidente para a equipe, a necessidade de trabalhar para reconstrução de identidade comunitária e, portanto, seria importante a realização de ações coletivas ,que permitissem um processo de conscientização frente à realidade vivida pela população com o desemprego aumentando pelas mudanças no manicômio, e suas consequências adversas.
A segunda edição do projeto, então, passa a ter abrangência ampla com o objetivo de:
- Contribuir para formação de identidades de atores singulares facilitando uma identificação coletiva.
- Aumentar o cooperativismo intra-socialatravés de parcerias internas e parcerias externas no município para propiciar a formação de uma teia organizadora;
- Incentivar a população a ocupar os espaços públicos para assuntos de interesse coletivo objetivando a emancipação.
Nesta fase a preocupação constitui-se em estabelecer compromissos entre as ações coletivas e os principais atores que pertencem à comunidade:
– inclusão de ações de poder aglutinante – oficinas de vídeo nas escolas públicas, como forma de desenvolver nos jovens estudantes o senso crítico necessário à participação mais efetiva na vida comunitária;
– oficinas de reciclagem de papel em praça pública, com reflexões sobre o meio ambiente e sua preservação, ênfase numa ação positiva do ser humano em relação à natureza, buscando reforçar o sentido de pertencer àquela localidade, ao país e ao planeta, e o aumento da auto-estima;
– performances teatrais que, por seu caráter lúdico e inusitado, vão possibilitar uma abordagem mais efetiva no que diz respeito à diversidade cultural, ponto-chave que leva a uma compreensão maior sobre o outro, sobre a alteridade, sobre a diferença, o que nos remete ao ponto de partida do projeto;
– Criação de um programa de rádio para informações sócio-educativas e abertura de canais para participação interativa do público.
Cria-se um ciclo de atividades que se reforçam mutuamente.

As novas ações criadas pelo projeto induziram novos interesses da população quanto ao fechamento do hospital psiquiátrico, desvelando-se a possibilidade de desapropriação do terreno da Dr. Eiras, e sua transformação em um bem público, iniciando-se com esse objetivo uma campanha ainda lenta. Esta conquista também depende o interesse e da participação de outros níveis do governo, para sua concretização.
As parcerias do projeto foram ampliadas para atender às solicitações de um posto de saúde em área de grande complexidade social, com o acolhimento ao grupo de mulheres vítimas de violência doméstica.
Através de rodas de discussão com profissionais da área de saúde mental, percebe-se o interesse maior do público pelas ações do projeto.
Também são realizadas filmagens com personalidades da cidade a respeito de: espaços históricos e eventos locais. A iniciativa de editar o vídeo e apresentá-lo antes da exibição de cinema tem como objetivo aguçar a auto-estima da população, fortalecendo a importância da cidadania e do vínculo com a cidade.
O projeto tem provocado interesse dos comerciantes da cidade, na utilização do espaço no entorno do local dos eventos. Eles têm se disponibilizado em usar camisetas com a logomarca do projeto, nos dias da exibição dos filmes, demonstrando interesse por uma participação ativa no evento.
Com a relação de confiança que se inicia junto à população, amplia-se a dinâmica de atuação, incrementando a parceria firmada com as instâncias do poder público. É promovida a organização e apresentação de debates de profissionais, abertos à população, sobre abuso sexual infantil e outros agravos contra as crianças e adolescentes, detectados no diagnóstico e que necessitam a presença de uma rede de entidades e ações voltadas para a proteção da infância.
Dessa forma, nos setores da educação, no do meio ambiente, no de cultura e turismo e no desenvolvimento social entre outros, são organizadas ações com participação popular, com temas que permitam, através de discussão e publicização, conscientizar os participantes e mudar a realidade do município. A múltipla produção de instrumentos de intervenção comunitária desperta maior dinâmica social e constrói estímulos para agilizar mudanças.
Conclusão
No processo histórico-político do Município de Paracambi a ausência de trabalho como princípio básico – para a qualidade de vida da população residente – produz na comunidade a incapacidade de se autogerir frente as necessidades essenciais para viver de forma digna . Esta situação cria focos de tensão no meio social, provoca a sua desorganização e desenvolve uma cultura assentada na exclusão dos menos favorecidos em qualquer aspecto: físico, financeiro, etário, étnico e de gênero. Motivos suficientes para justificar, segundo Sanchez (2007) a intervenção comunitária, com a intenção de resgatar perdas sociais e diminuir a desigualdade, antagônicas ao princípio essencial dos Direitos Humanos.
No entanto, para vencer a resistência simbólica de uma cultura de exclusão é necessário transformar a lógica em que essa cultura foi produzida. Muitas vezes na intervenção comunitária é necessário usar artifícios de mediação, como a imagem cinematográfica, no projeto aqui apresentado, considerando como fundamental: a construção coletiva da auto-estima, do sentimento de pertencimento da comunidade e a participação social que permite resgatar o contrato social e restabelecer o Estado de Direito do qual a população fora privada.
Na terceira e atual edição o projeto manteve o cinema em praça pública como marca original, mas foi acrescida uma nova ação que desse possibilidade de multiplicar a ideologia para uma cidadania ampla e a sua sustentabilidade quando não houver mais a presença do projeto, prevista no final desta terceira edição: a criação de agentes comunitários que devem atuar como atores na construção de equipamentos e ações de tecnologia social voltados para o desenvolvimento humano do município, aliando o projeto a uma dimensão maior na construção de políticas públicas.
Não sabemos ainda o que encontraremos ao final do projeto, quando outra pesquisa de opinião pública será realizada. Mas, desejamos conseguir ao menos, durante as sessões de cinema, que a população ali sentada, ao lado daqueles anteriormente reconhecidos como pacientes psiquiátricos e, tomados pela imagem da tela, ajam como se as duas cenas (dentro e fora), se integrassem numa única experiência, plena e universal, construindo uma memória duradoura que terá por função mesclar a arte com a vida, a loucura com a cidadania, a diferença com a igualdade.
Mestre em Psicologia Social – UERJ, Doutoranda em Psicologia Social da Universidade de Barcelona; Coordenadora do Projeto Cinema na Praça/Intervenção na Cultura – PETROBRAS
Referências:
Cabrera, J. (2006): O Cinema Pensa: Uma Introdução à Filosofia Através dos Filmes, Río de Janeiro, Rocco.
Camarotti, M.H.; Silva, F.R.S.; Medeiros, D.; Lins, R.A.; Barros, P.M.; Camarotti, J.; Rodrigues, (2005) A. Instituição: Movimento Integrado de Saúde Mental Comunitária do DF (MISMEC-DF) Terapia Comunitária: Relato da Experiência de Implantação em Brasília – Distrito Federal
Carrière, J. C. (2006): A Linguagem Secreta do Cinema, Río de Janeiro, Nova Fronteira.
Constituição da República Federativa do Brasil, (2002).Org.Claudio Brandão de Oliveira -10ª Ed. RJ – DP &A.
Cordeiro, H. O Instituto de Medicina Social e a luta pela reforma sanitária: contribuição à história do SUS.
Physis, [periódico on-line], n. 14, v. 2, p. 343-362, 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/physis/v14n2/v14n2a09.pdf >. Acesso em: 11 nov. 2009.
Levcovitz S. (2004) – Sumário Executivo – Relato Técnico – Direção Clínica (mímeo), RJ.
García, J. (2002): “Taula Rodona: Drets Humans i Salut Mental”, ponencia presentada en las Primeres Jornades sobre Drets Humans i Salut mental, Barcelona, Ayutament de Barcelona.
Guljor, A. & Vidal, C. (2008): Centro de Atenção Psicossocial Vila Esperança-uma estratégia de suporte a desinstitucionalização, Río de Janeiro, (mimeo).
Kelly, J. G., Snowden, L. R. Muñoz, R. F. (1997): Social and community interventions. Annnual Review of Psycology, 28. in A.Sánchez Vidal (2007).
LeI Federal 1º 10.216 www.saude.gov.br/biblio/texto integral.
Mesquita, J., Paiva, A., Filho, A. & Martins, R. (2007): Seguridade Social e o Financiamento do Sistema Único de Saúde no Brasil, Brasilia, Ministério da Saúde.
Organización Panamericana de Salud (OPAS) (1994): “Reestructuración de la atención psiquiátrica en América Latina”, Boletín Informativo, nº 4.
Rodriguez Neto, E. (1988) Saúde: promessas e limites da Constituição. (Tese de Doutoramento – Faculdade de Medicina da USP). São Paulo.
Rotelli, F. (2001) Desistitucionalização: uma outra via. A Reforma psiquiátrica Italiana no contexto da Europa Ocidental e dos “países avançados”. in F. Nicácio, Desistitucionalização, São Paulo, Hucitec PP 17-59.
Sánchez Vidal, A. (2007): pp 226 Manual de Psicología Comunitaria. Un enfoque integrado, Madrid, Pirámide.
Santos, W. (1979): Cidadania e justiça, Río de Janeiro, Campos.
Veciana, I. & Olivé, R. (2002): “Discurs D´Inauguració”, ponencia presentada en las Primeres Jornades sobre
Drets Humans i Salut Mental, Barcelona Ayutament de Barcelona.
Weber, M.(1921): “Conceito e Categorías da Cidade”, tradução de Peixoto, A.C. in Velho, O. G.: (1979) “Conceitos e Categorias da Cidade”, Río de Janeiro.
Já havia, anteriormente, as Caixas de Auxílio organizadas por servidores de diversas empresas, cujos benefícios eram derivados de cotas de contribuição dos trabalhadores voltadas para assistência em casos de doenças e invalidez
Getúlio Vargas foi presidente do Brasil de 1930 a 1934 nomeado por uma junta militar e de 1934 a 1945 através do voto indireto (parlamentar). Eleito em 1951 por voto direto, permanece no governo até sua morte em 1954. Fez mudanças sociais e econômicas, criando os sindicatos de trabalhadores e os Ministérios do Trabalho, Indústria, Comércio, Educação e Saúde, ao criar um modelo centralizado de Estado.
Rotelli (2001, p.29) sintetiza como o processo de desinstitucionalização: “(...) um trabalho prático de transformação que, a começar pelo manicômio, desmonta a solução institucional existente para montar e desmontar (e para superar) ou o problema. (...) a terapia não é compreendida mais que o como a perseguição da solução-cura, mas como um conjunton complexo, e também cotidiano e elementar, das estratégias indiretas e imediatas que enfrentam o problema na questão através de um percurso crítico nas maneiras de ser do tratamento do próprio”.
1 Cineduc – filmes brasileiros escolhidos considerando o critério de qualidade .
Exposição “O Hospício é Deus” no Museu Bispo do Rosário, fotografias de Freddy Koester, curadoria Wilson Lázaro, Flávia Corpas e Ricardo Aquino.
Núcleo de Opinião Pública, coordenação: Flávia Ferreira, publicitária especialista em Opinião Pública pela UERJ.
Comentário de Wladimir Dias- Pino à autora, sobre o relato da cena durante um encontro casual na Galeria do lago do Museu da República (2006).
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas.

 LEI DE ANISTIA: A IMPUNIDADE COMO NORMA
LEI DE ANISTIA: A IMPUNIDADE COMO NORMA
Diego Marques
Edmario Nascimento
Gilberto Batista
João Bosco Arruda
Lais Araújo
Raissa Santos
Orientador: Prof. Msc. José Raimundo Santos
O presente artigo tem por o objetivo tratar das questões concernentes à Anistia, a forma com que ela foi oferecida aos perseguidos pelo regime e como a impunidade dos torturadores que serviram ao governo reflete-se na sociedade atual.
Século XXI. Vive-se a plenitude da era tecnológica. Os avanços das ciências permitem ao ser humano sonhar com maravilhas: reconstrução de tecidos e órgãos, transmissão de informações em tempo real, aparelhos cada vez menores e com possibilidades enormes de uso, aperfeiçoamento das técnicas de datação de peças antigas e que ajudam a reconstruir a história da humanidade, voto secreto e universal (Brasil).
São muitas conquistas e tudo parece apontar para a direção de uma vida cada vez mais tranq uila e confortável, plena e participativa. Entretanto, é necessário que nesse pano de fundo estejam presentes condições reais para a existência da dignidade da pessoa, para o usufruto dos bens sociais desenvolvidos coletivamente, e para a promoção da paz.
Na esteira desse pensamento é que se inserem as indagações sobre direitos humanos. Das transformações sociais ocorridas nas últimas décadas e das experiências, muitas vezes traumatizantes, porque passaram diversos países, entendendo-se aí o elemento população como de maior interesse para essa análise, surgiram necessidades e anseios que culminaram na criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos no Século XX.
Acreditou-se ser possível apreender Direitos que perpassam toda a comunidade humana e estão presentes em todas as formas de organização social, reconhecendo-os como inerentes ao indivíduo, variando na maneira como se apresentam. As raízes desses direitos podem ser encontradas em outro que o antecede: o Direito Civil. Os direitos civis constituem-se em liberdades públicas, ou seja, não são prestações por parte do Estado. São direitos de liberdade religiosa, de opinião, direitos de igualdade, de propriedade, enfim, são de um modo geral aqueles consignados na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1779 que, “ao conjugar o valor da liberdade com o valor da igualdade, demarcou a concepção contemporânea de direitos humanos, pela qual estes passam a ser compreendidos como uma unidade interdependente, inter-relacionada e indivisível”. (PIOVESAN, 2008). O reconhecimento desses direitos foi se consolidando à medida que a vida da sociedade se tornou mais complexa, com divisão cada vez maior dos papéis de cada indivíduo para a garantia da vida em grupo, para a segurança social e econômica, para o desenvolvimento econômico e a estabilidade das relações.
A conquista de direitos por parte da sociedade civil fez-se, na maioria das vezes, através de conflitos de interesses entre os setores que a compõem. O Direito das gentes (ius gentile), nascido em Roma, refletiu-se por todo o mundo, lançando bases para as reivindicações daqueles que viriam a se tornar cidadãos. A luta pelo reconhecimento desse direito é a marca do Direito Civil. Várias foram as expressões utilizadas para designar essa modalidade de direitos: status negativus, direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e coletivos, direitos e liberdades fundamentais, direitos fundamentais da pessoa humana, direitos e garantias individuais, preceito fundamental e direitos individuais, entre outras.
No Brasil, os direitos civis de cidadania sofreram o peso da herança colonial, da escravidão e da grande propriedade privada. Esses fatores produziram um país comprometido com o poder privado e com uma ordem social que negava a condição humana – uma espécie de capitis diminutio generalizada – a grande parcela da população. Os direitos civis, porquanto, só existiam na lei. (BRITO ALVES, 2005).
O fato de existir a possibilidade de a sociedade cobrar do Estado o cumprimento de exigências relativas a relações particulares abriu caminho para novas cobranças: votar e escolher os representantes, organizar-se em grupos para maior representatividade junto ao Estado entre outros. Estes passaram a ser conhecidos como direitos políticos: a intervenção da sociedade na organização estatal. À medida que se avança na consolidação dos direitos civis, fortalecem-se os direitos sociais e caminha-se em direção aos direitos humanos.
Ao passo que as transformações no Direito em todo o mundo permitiram a concepção de um Direito Humano Universal, os diversos países acenaram positivamente para a recepção desse direito internamente, buscando alinhar-se com os objetivos traçados em diversas ocasiões de debate e promoção de entendimentos sobre os valores que devem nortear o mundo a fim de garantir a promoção da igualdade, a cultura da paz e a valorização da pessoa humana.
O Brasil tornou-se signatário de diversos tratados internacionais a partir da década de 1980, através dos quais reconhece o Direito Internacional dos Direitos Humanos como válido e compromete-se a colaborar ativamente na defesa dos mesmos. A história recente do Brasil é marcada por traumas causados durante o período da ditadura militar (1964-1985), com a violação de direitos e a imposição de torturas e degradação de pessoas contrárias ao regime, vilipendiando a existência, a dignidade e o respeito de diversos cidadãos que buscavam expressar suas ideias e oposição ao regime de exceção. A suspensão dos direitos civis e políticos implicou em atraso para a democracia e para a organização da sociedade civil.
Através de Atos Institucionais, o regime controlava duramente a oposição, de forma que cassava direitos políticos, exonerava cargos e funções públicas, aposentava compulsoriamente, determinava intervenções de toda sorte. O direito de opinião foi restringido, a justiça militar passou a ser competente para julgar os crimes contra a segurança nacional, a pena de morte foi reintroduzida no meio do regime, havia proibição expressa com relação a greves, os direitos fundamentais da pessoa humana embora tivessem previsão constitucional no artigo 150 da Constituição Federal de 1967, foram suspensos pelo AI–5 (o mais repressor dos atos institucionais, que entre outras coisas também suspendeu o habeas corpus). Assiste-se ao retorno do Brasil ao estado de coisas que se quis combater com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, retrocedendo ao uso da violência como forma de organizar a vida social e política.
Uma década depois do golpe, o crescimento econômico, baseado no endividamento externo, tornou-se oneroso demais para a sociedade brasileira e a crise econômica tornou-se uma crise política igualmente insustentável, cuja saída foi iniciar um processo de abertura política e institucional que viria a se consolidar ao longo de mais dez anos. Sentiu-se a necessidade de pensar o país a partir de expectativas democráticas, assentadas sobre a garantia de respeito aos direitos (civis, políticos e humanos), e que, além da existência formal desses direitos, é preciso garantir que estes se tornem efetivos, saiam do papel para a existência concreta. Além disso, é preciso acreditar que no país já não será possível tantas violações dos valores humanos, que custaram tantas vidas para serem reconhecidos.
A Constituição de 1988, elaborada em clima de democratização, ampliou, em muito, os direitos fundamentais, incluiu, entre eles, direitos que tradicionalmente são considerados de segunda e terceira geração, como os direitos políticos e sociais, criou, verdadeiramente, um novo regime jurídico para esses últimos direitos ao assegurá-los como fundamentais.
Contexto histórico
O golpe militar de 1964, ao modificar a Constituição Federal de 1946, interrompeu o processo de democratização do país, o qual trouxe a ampliação dos direitos e garantias individuais implementados há duas décadas. Através dos Atos Institucionais, atos através dos quais se modifica a constituição, realizou uma série de modificações ilegítimas no texto constitucional, violando a essência do processo democrático representado pela Carta Magna.
O AI-1 (Ato Institucional nº 1), estabelecido pela Junta Militar em abril de 1964, determinava entre outras medidas: eleições indiretas para presidente da República, suspensão das garantias constitucionais de vitaliciedade e estabilidade dos cargos e funções públicas pelo período de seis meses e dava ao Presidente o poder de edição de emendas à Constituição.
Os AI-2, 3 e 4, editados pelo Marechal Castelo Branco que assumiu a presidência eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, em 15 de abril, culminaram na exclusão de partidos tradicionais como o PTB, PSB e UDN, instituindo o regime bipartidário com a criação dos partidos ARENA e MDB. O AI-3 determinou eleições diretas para governadores a partir da votação de deputados estaduais e o AI-4 estabelecia as normas para elaboração da nova Constituição, que passou a vigorar em março de 1967, institucionalizando o regime militar e a nova Lei de Segurança Nacional, fortalecendo ainda mais o governo.
O fechamento do regime através dos Atos Institucionais estimulou a insatisfação popular demonstrada em manifestações e atos públicos protagonizados, em sua maioria, por estudantes intelectuais e artistas militantes de esquerda, levando o então Presidente Costa e Silva a editar o AI-5, o dispositivo legal mais perverso do governo do regime militar.
O AI-5 suspendeu as garantias constitucionais do habeas corpus, da vitaliciedade e da estabilidade, conferiu ao presidente o poder de intervenção nos Estados e Municípios, de cassação de mandatos, de suspensão de direitos políticos por dez anos, de decretar estado de sítio sem audiência do Congresso e de promulgar decretos-leis e atos complementares com o objetivo de assegurar a permanência da “Revolução Democrática”.
Costa e Silva afasta-se da presidência em 1969, por motivo de doença, substituído por uma Junta Militar que indicou o General Emílio Garrastazu Médici para o poder, dando início ao período posteriormente conhecido como “os anos de chumbo” da Ditadura. Este período foi marcado pela propaganda ufanística e pela exaltação do sentimento de patriotismo, que viria a ser estimulado pela participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 1970 e pelos altos índices de crescimento econômico, conquistados através do arrocho salarial, do endividamento externo, do enxerto de capital estrangeiro na economia e com investimento de multinacionais na implementação do parque industrial nacional.
A principal característica de seu governo, porém, foi a perseguição implacável aos opositores do regime, tidos como “comunistas”. Esse contexto repressivo provocou o aumento da revolta contra o regime, culminando na retomada das mobilizações do movimento estudantil e no surgimento de várias organizações esquerdistas que concebia a guerrilha como única solução para o fim da Ditadura.
Os grupos guerrilheiros eram formados, em sua grande maioria, por estudantes secundaristas ou recém-universitários. Estes grupos eram liderados por antigos comunistas desertados do PCB, partido que havia se colocado contra a luta armada.
Desde o início a guerrilha já tinha muitos erros. Para começar, os guerrilheiros consideravam-se marxistas, mas quase não tinham lido a respeito. Ninguém tinha feito uma análise profunda da sociedade brasileira para ter certeza que aquela era a melhor estratégia a ser seguida. Por exemplo, sonhavam com a guerrilha camponesa em um país enorme que já era urbano e industrial. (BORIS FAUSTO; 2008)
Dos grupos que apostaram na luta armada como meio para o fim do regime, os mais importantes foram a VPR (Vanguarda Popular Revolucionária), cujo líder Carlos Lamarca foi executado por tropas do exército junto a José Campos Barreto, outro membro do grupo; o MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro), que possuía Stuart Edgard Angel Jones como um dos principais membros, morto após longas sessões de tortura no quartel da Aeronáutica; a ALN (Aliança Libertadora Nacional) de Carlos Marighella, famosa dentro e fora do país, com notícias na França e em Cuba, teve seu líder assassinado a tiros em uma emboscada no Rio de Janeiro, sofrendo, com isso, abalo em sua estrutura; o PCBR (Partido Comunista Brasileiro Revolucionário), que teve seu líder Mário Alves morto empalado no DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna), na Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro; e o PC do B (Partido Comunista do Brasil), protagonista da Guerrilha do Araguaia, no sul do Pará.
A Guerrilha do Araguaia foi um confronto sangrento onde cerca de 60 comunistas, a maioria deles em luta direta com o exército, foram aprisionados, torturados e posteriormente assassinados. Após o término do confronto, e com os militantes da guerrilha já executados, os militares lá encontrados realizaram uma “operação de limpeza”, a fim de eliminar os vestígios de suas atuações: fazendo uma pilha de cadáveres e pneus velhos, incendiaram os corpos.
A tortura foi o um dos instrumentos mais eficazes utilizados pelos militares a fim de obter informações importantes. Foi “o seu instrumento extremo de coerção e o extermínio o último recurso da repressão política que o Ato Institucional nº 5 libertou das amarras da legalidade”. (GASPARI; 2002). Os presos torturados foram submetidos a suplícios, como ficar pendurados no “pau-de-arara”, pontapés, queimaduras, choques elétricos, afogamentos, banhos de ácido, introdução de arame em brasa na uretra, empalamento, estupro, além de terem os olhos vazados com socos, seios arrancados e testículos amassados com alicate.
O mundo, nesse momento, fica de pernas para o ar. É o pau-de-arara, pelo qual a maioria de nós, presos políticos, passou. (...) A tortura é uma experiência praticamente inenarrável. Quem passou por ela sabe que as palavras são absolutamente insuficientes para descrevê-la, tal o sofrimento, a humilhação, a sensação de impotência, a certeza de estar só, de não contar com ninguém senão com você mesmo. Na tortura, essa situação desumana e absolutamente desigual, você se defronta com o mais profundo de si mesmo, e tem de responder no ato qual o limite de suas forças. Eu, quando estava no pau-de-arara, tomando choques, torcia para desmaiar, pensava que a morte seria bem-vinda, mais meu físico ag uentava e decidi-me por não falar, e ponto. Consegui não falar. Theodomiro também resistiu. (EMILIANO JOSÉ; jornalista, professor licenciado da Faculdade de Comunicação – FACOM – da Universidade Federal da Bahia – UFBA –, preso político)
Essas atrocidades foram cometidas em departamentos como Dops (Departamento de Ordem Política e Social) e o DOI-CODI, comandadas por altas patentes das Forças Armadas, a exemplo do Coronel Ustra, que esteve à frente do Destacamento de São Paulo, porém sempre foram negadas pelos generais do regime. “A tortura raramente é reconhecida e nunca é abertamente defendida”. (GASPARI; 2002).
Após esse período de regime fechado, com prisões, mortes e exílios, ascende à presidência Ernesto Geisel, com a proposta de uma abertura “lenta, gradual e segura”, revogando o tão repressivo AI-5. Iniciou-se, contudo, um litígio entre os militares a favor do regresso dos “anos de chumbo” e aqueles desejosos pela abertura, culminando com duas mortes nas dependências do DOI-CODI, em São Paulo. As vítimas foram Vladimir Herzog, jornalista morto em outubro de 1975, e Manuel Fiel Filho, operário assassinado em outubro de 1976. O governo acaba retrocedendo no processo de abertura política com o lançamento do Pacote de Abril e a criação dos “senadores biônicos”, que permite a sua constante maioria no Congresso.
Nos últimos anos da década de 1970, houve um rápido crescimento da mobilização em prol da Anistia, dando origem ao Encontro de Movimentos por Anistia em Salvador, em 1978, que veio a definir a realização do 1º Congresso Nacional por Anistia em São Paulo. Deste evento participaram mil pessoas, representando a força da luta por uma Anistia Ampla, Geral e Irrestrita. A partir desse Congresso, passou a funcionar a Executiva Nacional dos Movimentos por Anistia no Brasil. Esta se reuniu por cinco vezes em vários locais do país, discutindo as questões relativas aos presos, ao retorno dos exilados, o levantamento de dados sobre mortos e desaparecidos, como também os meios de fortalecer o reencontro do país com a democracia plena a partir de uma anistia sem restrições.
O projeto de anistia foi aprovado em agosto de 1979, durante o governo do General João Baptista Figueiredo, que prometeu a retomada do Brasil à democracia. Figueiredo restabeleceu as eleições diretas, exceto para presidente, e permitiu o retorno ao pluripartidarismo. Porém, o aprovado projeto de Lei da Anistia não estava em consonância com os anseios do povo, que tanto lutou para sua edição, já que beneficiava os torturadores e todos os participantes de ações agressivas contra os opositores do regime (crimes conexos) e também excluía os participantes da luta armada.
A restrita Lei de Anistia, nº 6.683/79 não contemplava vários perseguidos do regime ditatorial, a exemplo de Theodomiro Romeiro dos Santos, que na época da aprovação da lei, cumpria pena na Penitenciária Lemos de Brito. Theodomiro possuía 16 anos quando ingressou na participação no movimento estudantil. Após a edição do AI-5, já com 17, passou a viver em clandestinidade, tendo então 18 quando foi atacado por um grupo armado em Salvador, configurando-se em um “seq uestro”, por não atender aos requisitos legais, pois não foi emitida voz de prisão e tampouco foi apresentado algum tipo de mandado. Algemado e amordaçado, foi jogado em um veículo e ao tentar se defender atirou em um de seus seq uestradores, um sargento da Aeronáutica, Walder Xavier de Lima, que faleceu posteriormente.
Para seu julgamento, foi articulado um júri especial composto por oficiais superiores da Aeronáutica, sendo sumariamente condenado à morte. Porém, devido às fortes pressões internas e da comunidade internacional, sua pena foi modificada para prisão perpétua e depois rebaixada a 30 anos. Por ter sido preso com idade inferior a 21 anos e ter cumprido mais de um terço da pena, Theodomiro tinha direito à liberdade condicional, sendo esta, porém, negada pelos juízes generais. Por esses motivos e pelo fato da sua exclusão na Lei de Anistia, Theodomiro fugiu da penitenciária, em 1979.
O 2º Congresso Nacional pela Anistia ocorreu em Salvador, em 15 de novembro de 1979, a fim de fazer um balanço dos avanços conquistados a partir da Lei 6.683/79, para definir os meios de atingir maiores conquistas. O segundo congresso contou com a participação de ex-exilados, como Luís Carlos Prestes, Renato Rabelo, Diógenes Arruda e Apolônio de Carvalho, e trouxe exigências como a soltura imediata de todos os presos políticos, a revogação da Lei de Segurança Nacional (LSN), o desmantelamento do aparelho repressivo, a reintegração política e social dos anistiados e esclarecimento dos mortos e desaparecidos, com o escopo de dar continuidade ao processo por uma Anistia, Ampla, Geral e Irrestrita.
Na Bahia, em 1980, os militantes do CBA (Comitê Brasileiro pela Anistia) incorporaram às suas tarefas a defesa dos direitos humanos, originando o CADH (Comitê de Anistia e Direitos Humanos). O CADH deu continuidade à luta contra a violência policial, as prisões arbitrárias, contra a Lei de Segurança Nacional, o terrorismo, sempre em defesa da anistia sem restrições. Atuou até o final da década de 80, com o desenvolvimento de inúmeras atividades.
Em 1982, alguns de seus integrantes foram presos após a invasão da Polícia Federal à Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia, onde estava ocorrendo um ato público com o lançamento da Revista Araguaia em comemoração aos dez anos do início da guerrilha. Os militantes ficaram presos por 20 dias no Quartel do Barbalho, sendo que dois destes foram torturados. Todos eles passaram, também, a responder inquérito, instaurado pela Polícia Federal, com base na Lei de Segurança Nacional.
Em 1985, ocorreu a Greve do Polo Petroquímico de Camaçari, que causou, além da paralisação do próprio Polo, a paralisação de uma grande parte do parque químico baiano, distribuído pelos municípios de Camaçari, Simões Filho e Candeias. Os trabalhadores do Pólo eram representados pelo Sindiquímica (Sindicato dos Trabalhadores Petroquímicos) e pelo Proquímicos (Sindicato dos Trabalhadores Químicos).
A política industrial que vigorava naquela época, em Camaçari, era um reflexo claro da filosofia administrativa das empresas estatais durante o regime militar, baseada em um “forte sentido de hierarquia na estrutura de comando gerencial; na ausência de participação operária na regulação dos conflitos de trabalho; incentivo ao desenvolvimento do arbítrio das chefias; surgimento de um certo ‘despotismo esclarecido’ em torno de algumas lideranças gerenciais carismáticas”. (GUIMARÃES; 1998).
Quanto ao lado trabalhista, o modelo em vigor distinguia-se pela ligação dos sindicatos aos partidos de esquerda; a presença de uma ideologia antiimperialista e a preferência pelas questões de política geral, deixando de lado as questões de política fabril.
O início das reivindicações foi formalizado em 31 de março de 1985, com a Campanha Salarial, que contou com a participação do Sindiquímica e do Proquímico. Após esta, sucederam-se assembleias, sendo a mais importante a realizada em 6 de julho do mesmo ano, no Cine Roma, cujo objetivo era mostrar a força do movimento reivindicatório ao patronato e aos funcionários mais resistentes. A grande ameaça do Sindiquímica era paralisar a Central de Matérias-Primas (Fábrica A), o que conseq uentemente paralisaria todo o Pólo Petroquímico de Camaçari, mas somente entre 27 e 29 de agosto esse grupo conseguiu o controle desta, provocando a interrupção do funcionamento, também, das empresas químicas de Candeias, Arembepe e Aratu. Consistiu, esta, a primeira fase da greve.
A segunda fase do conflito, período de 30 de agosto a 2 de setembro foi marcada por disputas judiciais, com vitórias para ambos os lados. O TRT (Tribunal Regional do Trabalho) reconheceu a legalidade da greve e os empresários obtiveram na Justiça Comum liminares para reintegração de posse das fábricas ocupadas.
A terceira fase, entre 3 e 12 de setembro, foi marcada pela ofensiva do patronato, com a demissão por justa causa de 171 operários, com base na Lei de Greve nº 4330/64, enquanto que o Sindiquímica concentrou-se em manter a greve e reabrir as negociações. Com a publicação do Acórdão do dissídio, contudo, manter o conflito foi impossível, pois a greve perdeu sua base legal, tendo seu término em 12 de setembro de 1985.
Vale ressaltar que os citados operários, após a já tão humilhante demissão, ainda possuíram seus nomes incluídos em uma lista do Serviço Nacional de Informações (SNI) cujo objetivo era impedir que os mesmos pudessem trabalhar na área petroquímica, não somente da Bahia, mas também de outros estados.
Após a retomada do processo de redemocratização no governo de Sarney, ainda permaneceu no Brasil um “entulho autoritário”, leis de conteúdo repressivo, além da própria Constituição de 1969. O Estado Democrático de Direito Brasileiro somente surgiu em 5 de outubro de 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal.
Inimputabilidade penal dos torturadores: por que a ditadura militar continua oculta no Brasil?
A anistia semanticamente é entendida como perdão. No sentido mais comum anistiado sempre foi entendido pelo homem mediano como alguém que tendo cometido alguma falta foi perdoado por outrem. Mas, tal visão ofusca-se por si, haja vista que se perdoa aos que cometem excessos. Não fosse a riqueza dúctil que emerge da semântica dos vocábulos seria imperdoável chamar de anistiado quem foi punido de forma ilegítima. Comumente a anistia é mais conhecida como um ato legislativo através do qual o Estado-juiz renuncia ao jus puniendi. Em tal conceito, conforme relata Aurelino Leal, citado por Damásio de Jesus (1992, p. 603) e Magalhães Noronha (1895, p. 335), está explícito que “o fim da anistia é uma espécie de esquecimento do fato ou dos fatos criminosos que o poder público teve dificuldade de punir e achou prudente não punir. Juridicamente os fatos deixam de existir; o parlamento passa uma esponja sobre eles. Só a história os recolhe”. (PALMEIRA SOBRINHO, 2003).
Em 1979, no governo de Figueiredo, foi promulgada a LEI Nº 6.683 – de 28 de agosto de 1979 – conhecida como Lei da Anistia. Mas, a referida lei não consagrou os anseios dos que lutavam pela anistia. Pois, apesar de todos os crimes cometidos nesse período, os algozes daqueles que lutaram por dias melhores sem tanta violência, dias em que pudessem ter a liberdade de agir e de pensar foram perdoados pela Lei de Anistia – que considerou tais crimes como conexos, sendo passiveis de anistia por tal lei:
Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares (vetado).
§ 1º Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política.
§ 2º Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, seq uestro e atentado pessoal.
§ 3º Terá direito à reversão ao Serviço Público a esposa do militar demitido por Ato Institucional, que foi obrigada a pedir exoneração do respectivo cargo, para poder habilitar-se ao montepio militar, obedecidas as exigências do art. 3º.
Apesar de a lei ter representado um passo importante para a reabertura política, esta foi “lenta e gradual”. Mas, ainda assim ela foi aceita porque sem anistia não havia a possibilidade dos militantes reunirem-se e dos exilados retornarem ao Brasil. Analisando-se bem o contexto em que a lei foi promulgada percebe-se que o objetivo majoritário dela era assegurar por mais algum tempo o regime militar que estava ruindo e não conseguia mais se sustentar.
O grande questionamento que se faz à Lei da Anistia de 1979 é o fato de os torturadores também serem beneficiados. Eles estão protegidos por ela e não podem ser julgados pelos crimes que cometeram. E essa é a luta dos anistiados e dos parentes de mortos e desaparecidos: que se faça justiça e que os militares que torturaram e mataram militantes paguem por seus crimes.
A inimputabilidade penal dos torturadores atrapalha o cumprimento da Justiça e deve ser revista o quanto antes. O crime de tortura, tal qual o de genocídio, não deve nem pode ser considerado um crime comum, mas sim um crime de lesa-humanidade (aqueles que ferem a dignidade humana, os direitos humanos).
O subprocurador-geral da república Wagner Gonçalves tem se empenhado em fazer do Brasil mais um país que pune os torturadores da época da Ditadura. “Há fundamentos jurídicos sólidos para que sejam abertas investigações contra os que cometeram crimes durante o regime militar. Não queremos perseguir ninguém, mas, também não podemos compactuar com a impunidade”, disse Gonçalves.
A questão de o Brasil não querer punir os torturadores não exime o Direito Internacional de fazê-lo. Pois, em 1968, a ONU (Organização das Nações Unidas) declarou que crimes contra a humanidade e de guerra são imprescritíveis. E apesar de nesse período estar em vigor no país o Ato Institucional nº 5 (período de maior repressão do regime) e o Brasil não ter assinado tal compromisso, assinou a Convenção de Haia em 1914 e a Carta das Nações Unidas em 1945, na qual se comprometeu a seguir os princípios e costumes internacionais. Portanto, ficou sujeito a tal norma, devido a esta não criar “direito novo”. Assim, não ficou excluída a competência da Corte de Haia para julgar brasileiros que participaram no regime.
A Lei 6.683/79 não pode absolver os agentes da repressão, pois isso caracteriza auto-anistia, isto é, o perdão do Estado aos agentes que trabalharam em sua defesa naquela época, uma medida inválida conforme o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), que também prevê que as leis de anistia não podem impedir investigações de crimes contra a humanidade.
Outra questão urgente é a abertura dos arquivos da ditadura para possibilitar a identificação dos torturadores e a busca dos corpos ainda desaparecidos. Segundo Eugênia Fávero, procuradora da República, “é impossível se ter uma democracia sólida indenizando torturados, familiares de mortos e desaparecidos e, por outro lado, documentos oficiais dizendo que tais pessoas se suicidaram ou nunca foram presas”. Em recente declaração veiculada na imprensa nacional, o Ministro da Justiça Tarso Genro também se manifestou favorável a essa questão: “Temos que verificar as mudanças que devem ser feitas na lei, porque tudo tem que ser feito dentro do Estado de Direito e protegendo as questões que são de interesse do Estado. Agora, isso é uma necessidade. A história deve ser conhecida por todo mundo”.
No Brasil, a abertura desses arquivos ainda é um tabu. Os órgãos competentes esquivam-se da responsabilidade de apurar os casos e punir os culpados, assim como fizeram os vizinhos Argentina e Chile. Esses países têm avançado nos processos contra a violação dos Direitos Humanos nas épocas ditatoriais. Aplicaram a chamada justiça de transição, respaldada pela verdade, reparação e reformas institucionais. É necessário lembrar que nesses países a ditadura acabou por força de pressão popular, visto que não se tinham partidos comunistas bem organizados, como foi o caso do Brasil. Aqui, o método que o governo encontrou para extinguir os partidos foi perseguindo as lideranças partidárias. Em nossos vizinhos, a luta veio na forma de mobilização social para derrubar os regimes ditatoriais. Essa característica se consagrou uma facilidade para que conseguissem driblar mais facilmente a lei de anistia e punir os algozes da época. No Chile, por exemplo, o ditador Augusto Pinochet teve sua prisão decretada pelo juiz espanhol Baltasar Garzón sob a acusação de cometer crimes contra a humanidade. No Brasil, há uma dificuldade porque argumentam que a abertura desses arquivos pode causar instabilidade política e ameaça à democracia. Todavia, Garzón afirma que:
Isso não é verdade, a abertura não tem nada a ver com o risco ao sistema político, e sim com a aplicação prática da Justiça, com a recuperação da memória. Não se pode fechar definitivamente a porta em relação aos atos cometidos durante a ditadura, cuja impunidade é um caso de muita gravidade. É preciso que cada país encontre a sua maneira de fazer justiça, e eu acho que isso pode perfeitamente acontecer no Brasil. (Jornal Paraná On-line).
A Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos foi criada pela Lei 9.140, de 4 de dezembro de 1995. Tal norma reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras providências. A representante dos familiares nessa comissão é Diva Santana, também é presidente do Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM) da Bahia. Ela está nessa luta há anos e tem desaparecidos sua irmã e seu cunhado, Dinaelza Santana Coqueiro e Wandick Coqueiro. “Esta página da história ainda não foi virada, nem as cicatrizes fechadas”, desabafa Diva. Ela declarou que as famílias impetraram uma ação contra a União que corre há mais de vinte anos, exigindo a reabertura dos arquivos e já sofreu diversos recursos. Contudo, em 2003, eles ganharam a ação e pediram a localização dos corpos, o traslado, a certidão de óbito e a abertura dos arquivos. O Governo Federal recorreu da sentença ao Superior Tribunal Regional, o qual determinou a abertura dos arquivos. Em novo recurso ao Supremo Tribunal Federal, o Estado perdeu novamente, sendo-lhe determinado o cumprimento da sentença até novembro de 2008.
Uma nova lei de anistia foi promulgada em 2002 (Lei nº 10.59/02) reparando os danos e prejuízos causados pelo regime:
Art. 2º – São declarados anistiados políticos aqueles que, no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, foram:
I – atingidos por atos institucionais ou complementares, ou de exceção na plena abrangência do termo;
II – punidos com transferência para localidade diversa daquela onde exerciam suas atividades profissionais, impondo-se mudanças de local de residência;
VI – punidos, demitidos ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos, sendo trabalhadores do setor privado ou dirigentes e representantes sindicais, nos termos do § 2º do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias;
VII – punidos com fundamento em atos de exceção, institucionais ou complementares, ou sofreram punição disciplinar, sendo estudantes;
Essa lei regulamenta a indenização aos anistiados em seu artigo 3º, prevendo que a reparação econômica correrá à conta do Tesouro Nacional. Em termos de prática legal e política, países em todo o mundo encontraram múltiplas formas de reinterpretar as leis de anistia para fazê-las coerentes com os direitos humanos e a Constituição. O Brasil é um dos poucos países onde a lei de anistia continua a ser vista como algo intocável.
A impunidade foi o maior legado da ditadura e representa a maior ameaça à consolidação da democracia. Quando um militar é punido por ter torturado, matado, seq uestrado, demonstra para toda sociedade que não será tolerado esse tipo de comportamento e que ninguém ficará impune. Uma pesquisa realizada por Katryn Sikkink, especialista em Política e Direitos Humanos da Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, estudou países que saíram de ditaduras e que julgaram os culpados por crimes como tortura, assassinato, prisão sem processo, desaparecimento, e tiveram melhoria na preservação dos direitos básicos. A pesquisa teve como instrumento a escala usada pela Anistia Internacional para medir o desrespeito aos direitos humanos. O resultado foi que o Brasil está mais violento do que na época da ditadura militar. Tinha um índice de 3,2 na escala, no tempo da ditadura, e tem 4,1 nos dias atuais. Colocado como o segundo mais violento do mundo, o país conta com a impunidade como um dos fatores essenciais para a obtenção dessa vergonhosa marca.
O episódio da queima de documentos militares na Base Aérea de Salvador, em 2004, apresenta a população, de modo concreto, as ações que podem ser geradas a partir da impunidade dos criminosos do período militar. Pois, eles não foram punidos e os arquivos, provas materiais da culpa, não foram abertos, deixando que partes da história continuem obscuras. Essa tentativa de eliminar as provas que existem contra os militares fere de maneira aviltante a memória histórica, a identidade do país e a luta pela construção de uma democracia plena, na medida em que impede o reconhecimento de erros danosos à organização social e política, com sérias implicações à mobilização da sociedade por serem reconhecidos e garantidos direitos civis e políticos. O art. 321 do Código Penal Militar considera crime contra o dever funcional extraviar livro oficial, ou qualquer documento e inutilizá-lo total ou parcialmente. Sendo assim, mais um crime foi cometido. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara (2004), deputado Mário Heringer (PDT-RJ), disse, em entrevista ao Correio Braziliense, considerar ‘‘gravíssimo’’ o fato de documentos confidenciais do período militar terem sido incinerados em dependências da Aeronáutica num momento em que se discute a abertura dos arquivos referentes à ditadura. Diva Santana, defendendo posição semelhante, declarou seu temor em que se repitam episódios como este. Ela acredita que nos arquivos secretos estão informações sobre a localização precisa dos 58 ativistas do PC do B mortos no Araguaia entre 1972 e 1975. É urgente e necessário saber o destino dos mortos e desaparecidos, por que, quando e como morreram ou desapareceram.
Considerações finais
A aplicação da Lei de Anistia, conforme está posta, significa situar o período ditatorial iniciado com o golpe militar de 1964, suportado com a outorga das Constituições de 1967 e 1969, como uma interrupção da ordem jurídica estabelecida pela Constituição de 1946 retomada pela atual Carta Magna. A mera passagem de um governo ditatorial para um democrático não basta para harmonizar a sociedade e reparar as violações aos direitos humanos. É necessária, antes, a aplicação da chamada Justiça Transicional, a qual consiste num conjunto de medidas tidas como necessárias para superar períodos de graves violações de direitos humanos em contextos de luta armada (guerras civis) ou de regimes autoritários.
Essas medidas devem procurar atender a três finalidades: o esclarecimento da verdade histórica e judicial, sempre mediante a abertura dos arquivos estatais relacionados ao período de autoritarismo; a realização da justiça, mediante a responsabilização dos perpetradores dos crimes de lesa-humanidade, afastando-se quaisquer óbices para a persecução penal, como auto-anistias, prazos prescricionais e limitações materiais e políticas às investigações; e a reparação dos danos às vítimas e seus familiares.
A responsabilização dos crimes contra a humanidade cometidos no Brasil presta-se ao fim de concluir a transição ao Estado Democrático de Direitos e, mais ainda, presta-se a garantir que no futuro episódios como esse não voltem a assombrar os sonhos de todos que se mobilizam por um país cada vez mais democrático, que lutam pelo direito de ter direitos, que aspiram ao ideal de justiça e que depositam confiança no Estado democrático como ente capaz de dirimir, através do seu aparelho jurídico, os problemas que afligem a ordem política e social.
Ainda que se interprete que a Lei 6.683/79 anistiou todos dos crimes praticados com motivação política, os crimes dos agentes estatais não podem ser assim caracterizados, pois, conforme refere Fragoso (1981), ao discorrer sobre o conceito de crimes de terrorismo e políticos: “(Esses delitos) exigem, portanto, no tipo subjetivo, vontade e consciência de praticar a ação que configura o ilícito, com especial fim de agir, o propósito de atentar contra a segurança do Estado (dolo específico)”.
A motivação política (elemento subjetivo), ou seja, a intenção do agente de causar dano ou lesão direta ou indireta à ordem política (elemento objetivo) não está presente na conduta dos agentes estatais, pois estes não agiam com o dolo específico de “atentar contra a segurança do Estado” ou “inspirados por esse resultado” (HUNGRIA, 1993), mas sim com a intenção de punir aqueles que manifestassem tais condutas. Os crimes cometidos pelos servidores estatais não podem ser tipificados como políticos, mas como crimes comuns.
A ONU considera crime contra a humanidade qualquer ato desumano praticado contra a população civil, no escopo de uma perseguição ampla e repetitiva, por motivos raciais, políticos ou religiosos. Não é necessário que se consume genocídio, mas apenas que um determinado segmento social seja alvo de perseguição específica. Esse conceito foi desenvolvido no Estatuto do Tribunal de Nuremberg (1945) e ratificado pela ONU em 1946 através da Resolução nº 95, quando a Assembleia Geral confirmou os princípios e sentenças adotados pelo referido Tribunal.
A Corte Interamericana de Direitos Humanos considera crime contra a humanidade a prática de atos desumanos, como o homicídio, a tortura, as execuções sumárias, extralegais ou arbitrárias e os desaparecimentos forçados, cometidos em um contexto de ataque generalizado e sistemático contra uma população civil, em tempo de guerra ou de paz (Caso “Almonacid Arellano y otros Vs. Chile”, 2006).
A obrigação internacional de investigar e punir os crimes contra a humanidade e a inaplicabilidade de prescrição e de anistia são costume internacional e princípio geral de direito internacional. Ao ratificar a Convenção de Haia de 1914, através da qual aceitou o caráter normativo dos “princípios jus gentium”, o Brasil vincula-se a esses princípios e reafirma-os ao assinar e ratificar a Carta das Nações Unidas de 1945.
A interpretação de anistia bilateral supõe a concessão de auto-anistia às Forças Armadas e seus agentes, pois em 1979, o país ainda era dirigido pelo mesmo governo militar que editou a referida Lei de Anistia. A jurisprudência das cortes internacionais, inclusive da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não admite a concessão de auto-anistia por parte de regimes autoritários.
Quando se omite de apurar e punir os crimes contra a humanidade, o Estado brasileiro viola contínua e permanentemente a Convenção Americana de Direitos Humanos, independentemente da data em que foram perpetrados os homicídios – precedentes da CIDH: Casos “Las Hermanas Serrano Cruz” (2004) e “La Comunidad Moicana” (2005); através da impunidade, não expressa a intolerância para com regimes que recorrem à violação dos direitos humanos como medidas institucionais; deixa de inibir novas formas de violação a direitos humanos; e, sobretudo, nega o reforço à democracia e à cidadania advindos com a valorização da verdade e da reparação.
Referências:
A Tarde. Indenização das vítimas da ditadura ainda é sonho. Disponível em <http://www.camacarifatosefotos.com.br/cff_imprimir.php?cod=3488>. Acesso em: 05 outubro 2008.
AFONSO, Renato – Professor de História, preso político entre 1971 e 1972 – Entrevista concedida em 16 setembro 2008.
ALVES, Alexandre Brito. Cidadania e direitos civis. Jus Navigandi. 02/2005. Acesso em: 18 setembro 2008.
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992.
BRASIL. Procuradoria da República em São Paulo. Subprocurador diz que MPF tem o dever de investigar crimes ocorridos na ditadura. <noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/direitos-do-cidadao/15-08-2008-2013-mpf-tem-o-dever-de-investigar-crimes-ocorridos-na-ditadura/>. Acesso em: 16 agosto 2008.
BRASIL. Ministério Público Federal. Representação – Homicídio – Vladimir Herzog, em 30/06/2008. Disponível em: <http://www.prsp.mpf.gov.br/cidadania/ditadura/> (MPF/ SP). Acesso em: 25 setembro 2008.
Correio Braziliense. Queima de arquivos é investigada – 14/12/2004. Disponível em <http://clippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2004/12/14/noticia.167792/> Acesso em: 06 outubro 2008.
FRAGOSO, Heleno. Terrorismo e Criminalidade Política. Rio de Janeiro: Forense, 1981.
GASPARI, Elio. A Ditadura Escancarada. São Paulo: Cia das Letras, 2002.
____ A Ditadura Envergonhada. São Paulo: Cia das Letras. 2002.
GUIMARÃES, Antonio Sérgio Alfredo. Um Sonho de Classe. São Paulo: Ática, 1998.
JOSÉ, Emiliano. Especial Caros Amigos nº 1. Disponível em <http://www.emilianojose.com.br/especiais/especial_theodomiro2.htm>. Acesso em: 09 setembro 2008.
MERLINO, Tatiana. O exemplo dos vizinhos. Disponível em <http://anistia.multiply.com/reviews/item/239>. Acesso em 21 setembro 2008.
NOVAES, Carlos Eduardo. LOBO, Cesar. História do Brasil para Principiantes. São Paulo: Ática, 2003.
PALMEIRA SOBRINHO, Zéu. O regime do anistiado: um elo entre a democracia e a relação de trabalho. Elaborado em 01/2003.
PASSOS, Edésio. O dever público sobre o alcance da Lei da Anistia. Disponível em: <http://www.parana-online.com.br/canal/direito-e-justica/320653/ >. Acesso em: 09 setembro 2008.
PIOVESAN, Flávia. A Constituição Brasileira de 1988 e os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. Revista Jurídica da Faculdade de Direito. V. 2. Nº 1. Ano II. ISSN 1980-7430.
SANTANA, Diva – Presidente do GTNM-BA e Conselheira da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos – Entrevista concedida em 02 outubro 2008.
SILVA, Hélio. O Poder Militar. São Paulo: L&PM. 1985.
Texto desenvolvido por alunos da Faculdade de Direito da
UNEB – Universidade do estado da Bahia

Fábio Konder Comparato

Na cerimônia de conclusão do curso do Instituto Rio Branco, de preparação à carreira diplomática, a presidente Dilma Roussef declarou que o tema dos direitos humanos será promovido e defendido “em todas as instâncias internacionais sem concessões, sem discriminações e sem seletividade”.
A declaração foi acolhida com aplausos de todos os lados, muito embora ela nada mais represente do que o cumprimento de um expresso dever constitucional. A Constituição Federal, em seu art. 4º, inciso II, determina que o Estado brasileiro deve reger-se, nas suas relações internacionais, pelo princípio da “prevalência dos direitos humanos”.
Acontece que nessa matéria o Estado brasileiro – e não apenas este ou aquele governo – segue invariavelmente a regra dos dois pesos e duas medidas. A presidente da República corre o sério risco de passar à História como seguidora da máxima: Façam o que eu digo, mas não o que faço!
Em 24 de novembro de 2010, o Brasil foi condenado por unanimidade pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em razão de crimes de Estado cometidos durante a chamada “Guerrilha do Araguaia”. Até agora, passados cinco meses dessa decisão internacional, nenhum dos nossos (mal chamados) Poderes Públicos fez um gesto sequer para iniciar a execução dessa sentença condenatória. Ressalte-se que, além de declarar que a decisão do Supremo Tribunal Federal de admitir a anistia dos torturadores e assassinos do regime militar “carece de efeitos jurídicos”, a Corte Interamericana de Direitos Humanos exigiu, entre outras medidas, que se implementasse um curso “obrigatório e permanente de direitos humanos, dirigido a todos os níveis hierárquicos das Forças Armadas”. Escusa dizer que tal curso não pode ser coordenado nem pelo Sr. Nelson Jobim nem pelo deputado Jair Bolsonaro.
Pior ainda. Inconformado com a decisão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que mandou suspender as obras de construção da Usina de Belo Monte, em razão do desrespeito aos direitos fundamentais dos indígenas que de lá foram expulsos, o governo da presidente Dilma Roussef, amuado, resolveu retirar a candidatura do ex-ministro Paulo de Tarso Vannuchi para ocupar justamente o posto de membro daquela Comissão, em substituição a Paulo Sérgio Pinheiro. Ou seja, “já que é assim, não brinco mais”.
Para dizer a verdade, essa duplicidade do Estado brasileiro em matéria de direitos humanos – o que se faz aqui dentro nada tem a ver com o que se prega lá fora – não é de hoje.
Durante todo o período imperial, a escravidão de africanos e seus descendentes tinha duas faces: uma civilizada e benigna perante os europeus civilizados, outra brutal e irresponsável cá dentro.
Em 1831 o governo do Regente Diogo Feijó promulgou uma lei que submetia a processo-crime por pirataria e contrabando, não só os traficantes de escravos africanos, mas também os seus importadores no território nacional. A mesma lei determinou que os africanos aqui desembarcados seriam de pleno direito considerados livres. No entanto, até 1850, como denunciou o grande advogado negro Luiz Gama, “os carregamentos eram desembarcados publicamente, em pontos escolhidos das costas do Brasil, diante das fortalezas, à vista da polícia, sem recato nem mistério; eram os africanos, sem embaraço algum, levados pelas estradas, vendidos nas povoações, nas fazendas, e batizados como escravos pelos reverendos, pelos escrupulosos párocos”.
Na verdade, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que extinguiu efetivamente o tráfico negreiro, só foi aplicada porque a armada inglesa, autorizada pelo Bill Aberdeen de 1845, passou a apresar os barcos negreiros, até mesmo dentro dos nossos portos.
Pois bem, uma vez extinto o comércio infame de seres humanos, o governo imperial passou a sofrer a pressão internacional para abolir a escravidão. Na conferência de Paris de 1867, convocada para tratar do assunto, as nossas autoridades não hesitaram em declarar que “os escravos são tratados com humanidade e são em geral bem alojados e alimentados… O seu trabalho é hoje moderado… ao entardecer e às noites eles repousam, praticam a religião ou vários divertimentos”. Só faltou dizer que os brancos pobres se acotovelavam na entrada das fazendas, para serem admitidos como escravos…
Como combater essa duplicidade de conduta tradicional entre nós, em matéria de direitos humanos?
Só há uma maneira: denunciar abertamente os verdadeiros autores desses crimes, perante o único juiz legítimo, que é o povo brasileiro.
É indispensável, antes de mais nada, mostrar que essa reprovável duplicidade de caráter é um defeito específico das falsas elites que compõem a nossa oligarquia.
É preciso, porém, fazer essa denúncia diretamente perante o povo, pois em uma democracia autêntica é ele, não os governantes eleitos, quem deve exercer a soberania.
Acontece que, numa sociedade de massas, uma denúncia dessas há de ser feita, necessariamente, através dos meios de comunicação de massas. Ora, há muito tempo estes se acham submetidos à dominação de um oligopólio empresarial, cujos membros integram o núcleo oligárquico, que controla o Estado brasileiro.
Chegamos, assim, à raiz de todas as formas de duplicidade que embaralham a vida pública neste país: tudo é feito em nome do povo, mas este é impedido de tomar qualquer decisão por si mesmo. O soberano constitucional acha-se em estado de permanente tutela.
Conversa Afiada, 26 de abril de 2011