ARTIGOS

 O enigma do sorriso que diz sim!
O enigma do sorriso que diz sim!
Para Cecília
Luiz Antonio Baptista*
Perdem o ar que ainda lhes restam objetos e afetos condenados a transformarem-se em obsoletos. Certos gestos interrompem essa tentativa de asfixia, isentos do heroísmo de um eu solitário. É o que acontece na manhã dos anos setenta em uma cidade da América do Sul. Uma mulher ri e ninguém consegue descobrir o motivo daquela ousadia. Buenos Aires abriga o horror que assedia a força do ato que diz sim. No terraço a jovem sorri, mas ninguém entende o porquê. Lá embaixo coisas, sonhos e almas acabam, somem como se não tivessem existido. O enigma do sorriso insinua afrontar tramas microscópicas do capitalismo, que perpassam feituras do tempo, atravessam e tecem fibras de corpos e de desejos. Não é só isso que aquele gesto no terraço enuncia. A cidade portenha acolhe um combate sem pátria, sem autor exclusivo, sem a precisão de uma data. Buenos Aires testemunha o enfrentamento entre a barbárie que asfixia e algo que diz sim. O que afirma o sorriso daquela mulher? O que o terror deseja destruir? Objetos e afetos obsoletos, descartáveis, inutilizam-se como parcerias; traduzidos em tralhas, restos banais, tornam-se inoperantes para oxigenar o eu asfixiado por excesso e falta. Movimentos, mudanças, devires fazem-se presentes, mas nada acontece como testemunho do fracasso das promessas do novo sempre esperado. O fim, e o ainda não, o nunca visto, são amansados na sua impertinência. A finitude das coisas vivas transforma-se em impureza. O tempo perturba como o odor de uma matéria apodrecida. Corpos impuros, afetos maculados são convidados a eternizarem-se na sedativa perda da lembrança do ontem inacabado, ainda vivo. O esquecimento acolhedor de um afeto que nunca mais retornará; o efeito do esquecer que exige a atenção ao que ultrapassa as fronteiras do eu, e a dos calendários, também é sedado. Eternidade breve, presa a um presente que não aturde o que passou e o que virá. O agora sedia o lugar exclusivo de uma felicidade instantânea. O passado apodrece e o futuro volatiza-se. Espera-se nunca saciado. Felicidade fugaz como um espasmo produzido por excesso e falta. Nada será transfigurado após o encontro com esta efêmera felicidade. Sob o terraço, o terror na calçada diz não. Mais do que isto, proíbe ao tempo mostrar a sua carne viva, carne que corta como uma faca afiada a solidez inquestionável da barbárie. Homens armados olham em direção ao sorriso e não entendem a razão. Para os agentes da ordem, naquela manhã portenha nada pode ser interrompido, surpreendido ou despedaçado. Nesta trama, objetos, afetos e corpos obsoletos não morrem, não vivem, não lembram, não esquecem. A fúria da memória é sequestrada. O que afirma o sorriso? No rosto dos homens armados, vê-se a ânsia de destruir algo valioso. Não anseiam eliminar somente corpos e sonhos. O que desejam aniquilar? O que afirma o gesto daquela mulher? Nada morre e nada vive na rua onde o riso mira aquilo tudo com o seu sim.
Na calçada, o cego ri mascando chicletes. A mulher, após visualizar tal cena, não será mais a mesma. Um cego rindo transtorna drasticamente a dona de casa dentro do bonde. “Ele mastigava goma na escuridão. Sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir e de repente deixar de sorrir, sorrir e deixar de sorrir – como se ele a tivesse insultado.” Clarice Lispector, no conto Amor,narra o impacto do gesto que não se deixa dizer o porquê; apresenta-nos o ato que escapa às amarras do significado a ser decifrado, ou da mensagem conclusiva a enviar. Este gesto irrompe num cotidiano onde tudo permanecia na mais perfeita harmonia. Na viagem de bonde no Rio de Janeiro, a personagem Ana foi insultada. Um homem rindo na escuridão, despossuído da confirmação do outro para conhecer a si mesmo, alguém que portava a cruel desacomodação do acaso, profanou o universo sagrado da dona de casa. Insultada, em perturbação ela estranhava os limites de si, do outro, desprendendo-se das fronteiras que lhe ofertavam segurança. O cego a ofendeu. Insultou o dia-a-dia apaziguado como o jardim onde Ana plantava sementes, regava-as e as colhia. Marido, filhos, sonhos cresciam como árvores no lar vegetal. O sorriso do homem na calçada interrompia a existência natural daquela mulher. Cortava como faca afiada a evolução contínua de vidas que germinam, mas não podem recusar o destino já desenhado. O tempo no lar vegetal não causava perturbação, não exalava como matéria possuída de vida e morte. Queimar com a sua carne, produzir combustão, transformar, era uma propriedade do tempo que aquele lugar desconhecia. O cego ria no invisível, ria na cidade das imagens que tocam, que reverberam com seu corpo o corpo do outro tornado outro após o encontro. Imagem que não necessita do olho ou de um destinatário para afirmar que está viva. No universo- jardim, o tempo sujo de mundo é sequestrado; cuida-se, espera-se crescer, aguarda-se. Na estufa da personagem Ana, o passado determina os rumos do que virá, o presente é sempre transição, o futuro salva. O riso do cego aviltou o imaculado calendário do universo doméstico. Intensificou a violência das sementes, das árvores que sabotam a fúria da memória. A personagem de Clarice, após o transtorno do que viu na calçada, chega em casa. A família, ela, o não eu, o seu corpo não eram mais os mesmos. “Enquanto não chegou à porta do edifício, parecia à beira de um desastre. (...) E por um instante a vida sadia que levava até agora pareceu-lhe um modo moralmente louco de viver. O menino que se aproximou correndo era um ser de pernas compridas e rosto igual ao seu, que corria e a abraçava. Porque a vida é periclitante. Ela amava o mundo, amava o que fora criado – amava com nojo.” O riso do cego a sujou, destruindo sem piedade o tempo e o espaço dos vegetais. A vida periclitante lhe ofertou o oxigênio do acaso, a alegria do risco.
Clarice Lispector oferece-nos neste conto o sentido político da arte como riso: um cruel e afetuoso insulto. Afetos e coisas tornadas obsoletas ainda sopram restos de ar. O riso, como a arte, destrói sem concessão a morte do passado, a transição do presente e a salvação no futuro. Insulta a banalização do já visto, do já dito e do ainda não. O riso, como a arte, assemelha-se à cortante ação da história que desloca, de um sujeito, de uma época ou de um espaço, a dor e a sua dissipação; ação cortante onde nunca se terá a serenidade dos vegetais. Dizia sim o cego. A estufa foi quebrada. O riso, à semelhança da história, só admite uma eternidade, a transgressão ao inexorável. Essa eternidade será sempre um insulto a qualquer forma de terror.
No terraço a jovem sorri, mas ninguém entende o porquê. Buenos Aires abriga o horror que assedia a força do ato que diz sim. Lá embaixo coisas, sonhos e almas acabam, somem como se não tivessem existido. O que afirma o gesto daquela mulher? Homens armados olham em direção ao sorriso e não entendem a razão. O que estes homens desejam aniquilar?
“Vi a cena pelos seus olhos: o terraço sobre as casas baixas, o céu amanhecendo e o cerco. O cerco de 150 homens, os FAP (fuzil-metralhadora pesado), o tanque. Tomei conhecimento do testemunho de um desses homens, um conscrito: ‘O combate durou mais de uma hora e meia. Um homem e uma moça atiravam do alto. A moça chamou a atenção, pois cada vez que disparava uma rajada e nos jogávamos no chão, ela ria. (...) Paramos de atirar, sem que ninguém tivesse ordenado, e pudemos ver bem. Era magrinha, tinha cabelos curtos e estava de camisola. Começou a falar conosco em voz alta, mas bem tranqüila. Não lembro tudo que disse. Mas me lembro da última frase; na verdade ela não me deixa dormir. ‘Vocês não nos matarão’, ela disse. Então ela e o homem encostaram suas pistolas na têmpora e se mataram diante de nós.’
Maria Victoria, filha do escritor argentino Rodolfo Walsh, riu no terraço pela última vez no dia em que completava 26 anos, em 1977. Na carta escrita pelo pai, sabemos que os agentes do terror não conseguiram dormir após ouvirem a frase ‘Vocês não nos matarão’. O riso de Maria Victoria não se tornou obsoleto como coisas e afetos que ainda respiram. Walsh também foi assassinado pela ditadura. O riso de Vicki, como a chamava o pai, é um insulto ao terror. Clarice Lispector, em sua novela A Hora da Estrela, afirma que “tudo no mundo começou com um sim”, um sim que despreza as origens, a evolução contínua da história que faz do passado algo concluído e morto. A literatura persiste como insulto. Os militares tentaram aniquilar a história, mas não conseguiram. O riso que diz sim é eterno como o cego mascando chicles.
*Professor Titular da UFF
Lispector, Clarice. Amor. In: Laços de Família: contos. Rio de Janeiro: Rocco, 1998, p. 21.
Walsh, Rodolfo. Carta Aberta. De Rodolfo Walsh para Vicki e amigos. Revista Serrote, n 6, São Paulo, novembro de 2010. P. 223.
Lispector, Clarice. A Hora da Estrela. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1992, p. 25.
 Polícia e cidadania
Polícia e cidadania
Edson Passeti*
São onze horas da noite e encerramos nossa reunião de pesquisa. Saímos para um lanche. Mais tarde, dou carona a quatro pesquisadores. Em alguns instantes estaria na porta do edifício onde reside o último amigo. Na esquina da Rua Dr.Veiga Filho com a Amaral Gurgel, diante do semáforo vermelho, observo uma “batida” policial adiante, no Largo do Arouche. Poderia ter virado à esquerda ou à direita e escolhido uma rota de fuga de um imediato incômodo. Prefiro seguir em frente.
Um policial me para e propõe o teste do bafômetro que não me recuso fazer. Em seguida, indica que estacione o automóvel em 45 graus. Estão à nossa frente quatro ou mais viaturas enfileiradas e ao seu redor vários policiais armados. Dois deles, com as mãos nos revólveres intimam-nos a sair do carro. Perguntam, de forma autoritária, se temos passagem. Conhecedores da linguagem, respondemos: não! Exigem os documentos de identificação de cada um e do automóvel. Procuro responder de forma amistosa e me informar sobre o que acontece. Eles exigem que me cale e os tratem por senhor. Esbravejam respeito às suas autoridades com lapidares frases histriônicas próprias a uma comédia vulgar e ordenam que esperemos na calçada. Pergunto-me: como seria tratada uma senhora ou uma garota que passasse naquele local, na mesma hora, por policiais tão superiores, autoritários e presunçosos?
Como sempre, na madrugada ou à luz do sol, os tensos policiais consideram cada cidadão um suspeito, um sujeito perigoso, alguém que deve obedecer às suas ordens sem responder, ou um submisso esperto e capaz de representar o ato esperado dos delinquentes: mãos para traz, um sim, senhor para qualquer ordem, cabeça baixa, enfim, a velha e velhaca cena contracenada pelo policial e o bandido numa batida.
Eles não admitem estar diante de um cidadão, mas tratam cada um como um vagabundo consumado, enquanto verificam os documentos. Rememoro, rapidamente, os tempos da ditadura e as batidas idênticas a essa durante a caça aos subversivos: todo policial vê o cidadão como um fora da lei enquanto ele, simultaneamente, é a lei e está acima da lei. Estabelece-se um comando apodrecido que pretende a sujeição do cidadão à autoridade policial e deixá-lo reduzido, muitas vezes, à condição de passageiro para o cárcere. Reproduz-se a conduta autoritária que deve silenciar e que exige obediência calada do cidadão.
Não apresento o documento do automóvel. Eles querem saber quem é o proprietário. Comunico que posso solicitar que o documento esteja ali em poucos minutos. Eles dão as costas. Fazem o seu trabalho! Eu e meu amigo conversamos na calçada calmamente, depois de informarmos uma advogada pelo celular. Sabemos que tudo é possível. Uma palavra que desagrade o poderoso policial pode ser o início de um macabro teatro do absurdo! O tempo passa, alguns carros são parados, outros seguem caminho. Decido ir ao policial e perguntar quanto tempo ainda demorará. Estamos cansados e eles nos querem dar uma canseira. O policial manda que eu espere. Volto a abordá-lo outras vezes até que depois de idas e vindas, ele fala mansamente, traçando reticências, que nos liberará em breve. Respondo-lhe, apenas, que aguardarei o documento de autuação e retorno à calçada.
Mais de 40 minutos depois nós entramos no carro para prosseguir.
Não só por exigências do meu trabalho de pesquisa, pergunto-me: qual o resultado dos variados programas implantados com dinheiro público para reformar a polícia? Cresceram as polícias e seus contingentes. Qual a diferença entre a polícia ditatorial e a polícia cidadã? Se a polícia imagina que a utopia do cidadão é a UPP, seguida da UPP social, e se cada cidadão quer mesmo que a polícia trate o outro como suspeito e bandido, isso é evidência de outro perigo a mais para cada um. A conduta entre o policial e o suspeito, seja ele quem for, permanece inalterada.
Pouco importa os quadros estatísticos sobre crescimento ou redução sazonal da criminalidade metropolitana, os relatórios científicos elaborados para colaborarem com políticas públicas e/ou as intermináveis palestras sobre cidadania: a polícia permanece um agente repressivo poderoso como instituição porque cada policial, antes de tudo, é um repressor. Em nome da panacéia chamada combate à impunidade os cidadãos apreciam sua conduta, por certo similar à sua com filhos, mulheres e subalternos... O governo policial sobre a vida encontra-se tanto no fardado como no civil e fortalece uma austeridade e um autoritarismo escancarados no cotidiano.
Assim, conserva-se a longo tempo a instituição, o policial e o cidadão educados pelo amor ao castigo, à punição, à obediência ao superior, produzindo uma sociedade de agentes e zeladores da ordem. Qual ordem? A do superior: seja ele um ditador ou um democrata disposto ao diálogo, compondo a sanha tolerante: a de fazer do outro aquele que deve ser manso e flexível para acatar o comando.
Como nem eu, nem meu amigo, tínhamos passagem (se tivéssemos, estigmatizados como qualquer infrator dimensionado como delinquente, estaríamos prestes a sermos encaminhados para a delegacia e...), tudo deveria acabar como mais um adendo à rotina do cidadão que não estava, naquele momento, com os documentos obrigatórios do automóvel.
Mas para um homem e pesquisador apreciador da liberdade não é assim que as coisas acabam. Não cabem as justificativas institucionais ou as palavras bem intencionadas dos reformadores do discurso policial. A polícia cidadã, armada ou não, científica e humanitária continua sendo a velha e podre polícia!
*Professor livre-docente da Faculdade de Ciências Sociais
Coordenador do Núcleo de Sociabilidade Libertária (Nu-Sol)
www.nu-sol.org da Puc-SP
 Presos Provisórios: mero punitivismo?
Presos Provisórios: mero punitivismo?
Juliana de Oliveira Carlos* e Natália Ferraz Granja**
A preocupação com a criminalidade e com a segurança comumente levam à formação de opinião de que a saída para estes problemas estaria na repressão mais efetiva aos criminosos. Via de regra, a repressão à prática de crimes é identificada como prisão. Assim, o aumento do número de pessoas encarceradas representaria um maior combate à criminalidade. Quanto mais presos, maior e mais eficaz a “luta” contra o crime.
Essa ânsia por punição e, como consequência, o aumento das populações carcerárias, não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas também pode ser observado em vários países. Loïc Wacquant e David Garland são exemplos de autores estrangeiros que trataram essa questão em suas obras. Porém, vamos falar de Brasil: em nosso país, o aumento do encarceramento é nítido e preocupante.
Para fins de exemplificação, trazemos os dados dos três estados mais populosos do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que somados já têm uma população carcerária de 242.723 pessoas. Grande parte das pessoas que fazem parte deste total se encontra presa sem que tenha havido um julgamento e uma condenação definitivos, ou seja, estão presas provisoriamente.
As prisões provisórias, também chamadas cautelares, dizem respeito às situações em que o réu já se encontra preso sem que tenha havido ainda uma decisão definitiva sobre seu caso. Entre as prisões cautelares, destacam-se a prisão em flagrante delito, a prisão preventiva e a prisão temporária. A lei prevê os requisitos e as hipóteses que autorizam a efetivação de cada uma delas. A característica essencial que permeia as prisões cautelares, contudo, é sua excepcionalidade. De acordo com as normas e princípios constitucionais que norteiam (ou ao menos deveriam nortear) a aplicação das leis, a liberdade do ser humano é um direito fundamental. Sua restrição, dessa forma, está condicionada à previsão legal e a uma decisão fundamentada. Seria somente diante da presença dos requisitos e da caracterização de hipótese legal autorizadora, por meio de decisão judicial, que aquele que é investigado ou acusado da prática de um crime poderia ser preso provisoriamente.
A realidade, todavia, parece bem distante dos ditames constitucionais e legais. Segundo dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (InfoPen) – disponíveis no site do Ministério da Justiça – 36% dos presos do estado de São Paulo não foram condenados. Em Minas Gerais, o número de presos provisórios é 29.328 (63,35% do total de presos do Estado) e no Rio de Janeiro é de 7.908 (31% da população carcerária) .
|
População Total |
População Carcerária |
Presos Provisórios |
Porcentagem de Presos Provisórios |
São Paulo |
41.384.039 |
170.916 |
61.628 |
36,1% |
Minas Gerais |
20.033.665 |
46.293 |
29.328 |
63,4% |
Rio de Janeiro |
16.010.429 |
25.514 |
7.908 |
31,0% |
TOTAL |
77.428.133 |
242.723 |
98.864 |
40,7% |
Fonte: INFOPEN |
O elevado número de presos provisórios leva a crer que as prisões cautelares não são mais encaradas como a exceção. As hipóteses que fundamentam tais prisões têm sido interpretadas de modo a ampliar cada vez mais a possibilidade de manter o investigado ou acusado preso ao longo de todo o processo penal, muito antes de qualquer certeza da necessidade de condenação. As prisões cautelares parecem ter sido alçadas à condição de cumprimento antecipado de pena, um reflexo do descaso das autoridades e da sociedade brasileiras quanto ao princípio da presunção de inocência. Basta o início do inquérito policial para que, aos olhos da opinião pública, que muitas vezes contamina nossos julgadores, a pessoa investigada tenha se tornado uma ameaça que deve ser mantida longe do convívio social.
Além de estar em flagrante violação da presunção de inocência, o elevado número de prisões provisórias também tem influência na própria organização do Poder Judiciário, afinal os casos de réu preso devem tramitar em regime de urgência no judiciário. Mas como definir prioridade se a regra da liberdade se tornou a exceção e a grande parte daqueles que figuram como réus em processos penais já se encontram presos?
O ponto essencial a ser discutido é se essas prisões são mesmo necessárias ou se somente buscam sanar o ímpeto por mais punição. Parece-nos que o número estarrecedor de presos provisórios reflete exatamente o punitivismo penal a que nos referimos nas primeiras linhas deste ensaio, um movimento que, preocupantemente, vem ganhando força sem que sejam propostas discussões aprofundadas sobre seus resultados. Será que estas prisões cautelares efetivamente levam à diminuição da prática de crimes? Ou será que apenas proporcionam uma falsa sensação de segurança que, em verdade, gera impactos extremamente nocivos na vida da pessoa presa, em sua estrutura familiar e em suas possibilidades de inserção e de cidadania futuras? Em última análise, é a própria sociedade que perde, pois exclui do convívio familiar e comunitário um grande número de pessoas que dela fazem parte, impedindo-as de ter acesso à educação e ao mercado de trabalho. Todos esses prejuízos individuais e sociais parecem estar bem distantes do objetivo de "ressocialização" de que tanto se fala quando se tenta justificar a pena de prisão.
*Socióloga
**Advogada
Os dados dos estados de São Paulo e de Minas Gerais correspondem à soma dos presos que se encontram nas carceragens policiais e dos demais presos provisórios (54.388). Quanto ao estado do Rio de Janeiro, não há dados disponíveis sobre os presos que se encontram nas carceragens policiais.

 Tortura e sofrimento em nome da felicidade: a biomoralidade do Estado hoje
Tortura e sofrimento em nome da felicidade: a biomoralidade do Estado hoje
Joana D`Arc Fernandes Ferraz*
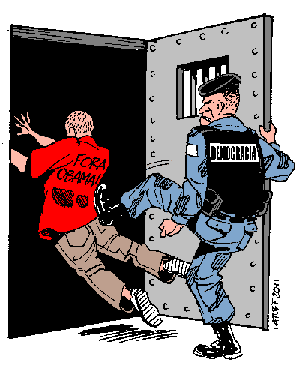 Um das grandes ironias de nossa triste condição é que essa mesma biomoralidade, concentrada na felicidade e na prevenção do sofrimento, é invocada hoje como princípio subjacente da justificativa da tortura: devemos torturar, impor dor e sofrimento, para impedir mais sofrimento. (Zizek, Slavoj. Em Defesa das Causas Perdidas. São Paulo: Boitempo, 2011)
Um das grandes ironias de nossa triste condição é que essa mesma biomoralidade, concentrada na felicidade e na prevenção do sofrimento, é invocada hoje como princípio subjacente da justificativa da tortura: devemos torturar, impor dor e sofrimento, para impedir mais sofrimento. (Zizek, Slavoj. Em Defesa das Causas Perdidas. São Paulo: Boitempo, 2011)
A visita de Barack Obama ao Brasil, adornada pelo princípio da felicidade, representada pela união entre os povos e pelo desenvolvimento e ajuda mútua das duas nações grandes e prósperas foi a representação máxima da biomoralidade, que sustenta a ação do Estado capitalista hoje no mundo. O primeiro presidente negro dos Estados Unidos visita a primeira presidente mulher do Brasil.
De um lado, uma nação alegre, feliz, com o povo sambando, jogando bola e com as crianças pobres enfileiradas na favela... toda violência e pobreza foi subsumida pelo princípio da felicidade. O clima de muita harmonia e paz traduzem esta excitação nacional, tão explorada pela grande mídia:
Em conversa por telefone, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, agradeceu a presidente Dilma Rousseff pela recepção oferecida em sua visita ao Brasil no último final de semana. Obama disse que "a hospitalidade foi maravilhosa", segundo relatou o porta-voz do Planalto, Rodrigo Baena... Dilma afirmou que a visita de Obama foi um marco na relação entre os dois países…(Estado de São Paulo, 25/03/2011)
A outra nação, também representante da alegria mundial, manifesta a sua felicidade com um negro na presidência. Finalmente, depois de séculos de dominação branca, Obama surge para dar o exemplo de “democracia racial”, que Gilberto Freyre sequer poderia imaginar. Mas a felicidade norte-americana não se limita a isso. Seu exemplo, tal como a ética protestante inspira, está no seu cuidado e zelo com a democracia em todo o mundo. Coincidentemente, nos primeiros minutos de sua chegada ao Brasil, Obama telefona para os EUA determinando o início da guerra contra a Líbia. A presidente Dilma Rousseff, também em nome da felicidade mundial, como afirma o conselheiro de Barack Obama para as Américas, Daniel Restrepo, não questiona:
"Não houve expressão de mal-estar por parte da senhora Rousseff" em relação à autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas para uma coalizão formada por Estados Unidos, França e outros países atacarem a infraestrutura do regime líbio. (O Globo, 20/03/2011)
A Declaração de Independência dos EUA já preconizava a sua importância e utilidade, ao revelar que, em nome da felicidade da nação, seria preciso o uso da força e da repressão contra os inimigos:
Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário um povo dissolver laços políticos que o ligavam a outro, e assumir, entre os poderes da Terra, posição igual e separada, a que lhe dão direito as leis da natureza e as do Deus da natureza, o respeito digno às opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação.
Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens foram criados iguais, foram dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade.
A felicidade, uma amiga feroz daqueles que ousam reclamar, também foi aplaudida no Hino à Brandeira brasileiro:
Contemplando o teu vulto sagrado,
Compreendemos o nosso dever;
E o Brasil, por seus filhos amado,
Poderoso e feliz há de ser.
Assim, em nome da felicidade, da prevenção contra o sofrimento, a condição de biomoralidade do Estado é assentada e aplaudida pela grande mídia. Esta condição alia-se ideologicamente às doutrinas de segurança nacional do Estado capitalista, consolidando uma nova etapa deste sistema, no qual democracia e livre mercado são elementos inseparáveis à condição biomoral, promotora da felicidade de todos. A garantia da “felicidade de tod@s” sustenta a prática da tortura, do sofrimento e da anulação dos “estranhos”.
Como não ser feliz? Como não querer ser feliz? Por que precisamos falar de tristeza? Por que gritamos na sexta-feira, dia 18 de março de 2011, em frente à Embaixada dos EUA: “Fora Obama! Abaixo a intervenção na Líbia! Imediata retirada das tropas brasileiras de Lula e Dilma, das tropas estadunidenses e da ONU do Haiti! Abaixo a intervenção imperialista no norte da África e no Oriente Médio! Viva a primavera árabe! Sigamos o exemplo das egípcias, tunisianas e líbias! Sejamos milhares nas ruas pra arrancar nossos direitos!” Por que insistimos em falar que nossa luta é a favor da soberania nacional, do direito democrático de nos manifestarmos politicamente? Por que, em meio a tanta felicidade, precisamos denunciar mais uma vez a nossa dominação cultural, política e econômica? Por que defendemos o pré-sal e as demais riquezas naturais numa hora dessa?"
Enquanto o Estado se apresenta como representante da felicidade dos povos, trabalhadores e estudantes foram presos, ficaram incomunicáveis durante 72 horas, Depois que um coquetel molotov foi jogado contra o Consulado, os policiais avançaram e prenderam 13 pessoas, que também ouviram o barulho do artefato explodindo. A "Vovó Tricolor", Maria de Lourdes Pereira da Silva, 69 anos e hipertensa, foi presa junto com os manifestantes, tratada como criminosa comum. Naquela manhã de sábado, Vovó Tricolor, dividiu uma cela, em Bangu-08, com uma estudante de Artes da UERJ, uma professora que estavam no ato e outra detenta. João Paulo, estudante de 17 anos, aluno aplicado do Colégio Pedro II, foi jogado na Triagem da Ilha do Governador Padre Severino (conhecida como “Cova dos Leões) e lá ficou incomunicável por 3 dias; Gilberto Silva (eletricista); Rafael Rossi (professor do estado, dirigente sindical do Sepe); Pâmela Rossi (professora do estado, esposa de Rafael Rossi);Thiago Loureiro (estudante de Direito da UFRJ, funcionário do Sindjustiça); Yuri Proença da Costa (carteiro); Gabriela Proença da Costa (estudante de Artes da Uerj, irmã e Yuri); Gualberto Tinoco (servidor do estado e dirigente sindical do Sepe); Gabriel de Melo Souza Paulo (estudante de Letras da UFRJ); José Eduardo Braunschweiger (advogado); Andriev Martins Santos (estudante da UFF) e Vagner Vasconcelos (movimento MV Brasil). Presos, todos os homens, inclusive o adolescente, tiveram as cabeças raspadas como criminosos comuns e encaminhados diretamente para os presídios sem previsão de julgamento.
Quase nada foi registrado pela grande mídia. Apenas a biomoralidade, centrada na felicidade foi contemplada! O sentido máximo da moral, enquanto um conjunto de pressupostos que definem coletivamente o que é aceitável e inaceitável assenta-se, no Estado capitalista, a partir das regras legais, como prisão e repressão policial. As formas mais profundas de violência, de sofrimento e de tortura do Estado encontram suas justificativas no desejo maior da felicidade coletiva da nação. Desta forma, a biomoralidade, pressuposto zizekiano segundo o qual a vida coletiva pode construir formas terríveis de existência moral, que não fundam um bem em si mesmo, constituem, no Estado capitalista, a afirmação de todo o tipo possível de violência, desde que assentadas no discurso da felicidade da nação. Desta forma, a moralidade e a felicidade servem ao juízo da utilidade dos poderosos, como dissertou Nietsche, em Genealogia da Moral.
Joana D`Arc Fernandes Ferraz, doutora em Ciências Sociais,
professora Adjunta da UFF
 Marilena Ramos Barboza,
uma vida exemplar
Marilena Ramos Barboza,
uma vida exemplar
Orlando de Barros *

É ainda com viva emoção que escrevo sobre o falecimento da professora Marilena Ramos Barboza, ocorrido no dia 28 de fevereiro do corrente. Fomos colegas e amigos chegados por cerca de quarenta anos. Primeiramente como alunos do mestrado de história da Universidade Federal Fluminense e, depois de 1978, como colegas de História do Brasil na UERJ, até a infausta data em que ela nos deixou. Mas eu já a conhecia superficialmente, do movimento estudantil do começo dos anos 60, dos encontros do CPC, e a fui reencontrar no mestrado em 1974. Naqueles anos verdes de nossas vidas, eu a invejava pelo rica agitação que havia na antiga Nacional de Filosofia, onde ela estudava, enquanto na minha universidade havia então um marasmo constrangedor.
Descobrimos em 1974 que o lapso de tempo que nos separou não produziu diferenças essenciais em nossas experiências e traumas, vividos nos piores anos da ditadura, escapados que fomos, quase ilesos, pelo menos se comparados a muitos colegas e amigos próximos, que sofreram amargamente nas prisões ou que tiveram de se ausentar abruptamente da pátria. Ao começar o mestrado, estávamos, como ela mesma avaliou mais tarde, “desconfiadamente esperançados”, com a “abertura lenta e gradual”, que custou, com as nossas torcidas, as cabeças de alguns esbirros mais perigosos do regime militar. Quando se apresentou a oportunidade, convidei Marilena para trabalhar na UERJ, quando a ditadura iniciava o último, desmoralizante e penoso governo, e já se podia trabalhar sem grandes sobressaltos.
Se falo disso nesses parágrafos iniciais é porque me parece que os chamados anos de chumbo marcaram indelevelmente a alma rica e sensível de Marilena. Era seu tema predileto, tornado consútil por intermédio de narrativas dramáticas ocorridas com pessoas estimadas, mas também consigo mesma, que conseguia escapar, de algum modo, das tramas armadas pelos inimigos. Ela tinha as suas “peripécias de Penélope”, para evocar uma heroína dos filmes mudos, sempre a escapulir das mãos perigosas no último segundo. Mas isto custou caro a ela. Os anos me ensinaram a compreender que, no meio da efusiva alegria de viver que sempre aparentava, dormitava nela uma tristeza que às vezes despertava, o “remorso” de não ter sido cassada, torturada, exilada. E isso porque, estou firmemente convicto disso, o sentimento de justiça de Marilena era o que a dominava mais que qualquer outro. E foi esse sentimento que a levou ao altruísmo engajado, preocupada com os outros a ponto de negligenciar os cuidados que devia a si própria.
Lembro-me bem de quando foi reintegrada no PNA (Programa Nacional de Alfabetização, Coordenado por Paulo Freire). Ela não se conformava de ter recuperado o salário enquanto muitos colegas não tinham os direitos reconhecidos. Marilena partiu então para uma devotada luta pela identificação dos que haviam tomado parte no programa de alfabetização dissolvido pela ditadura, estudando a melhor maneira de conseguir a readmissão dessas pessoas por via administrativa, ou na justiça. Lembro-me bem dela, de outra feita, cuidando de proteger os direitos de um ascensorista da UERJ, cuja aposentadoria estava sendo barrada por uma chicana administrativa do governo do estado da época. Não eram casos isolados, ela fazia isso constante e sistematicamente, como se fosse um programa de vida. Por essas e muitas outras era uma pessoa admirada e amada, pelos tantos que ajudou mundo afora, pelos colegas, amigos e alunos.
Como especialidade profissional, preferiu pesquisar e ministrar cursos sobre as questões relativas à história do trabalho, particularmente no período Vargas. Alí tínhamos um campo de inesgotável diálogo, pois Vargas tem sido também objeto de minha devoção profissional. Os assuntos culturais desse rico momento histórico, meu tema predileto, era muito bem conhecido de Marilena. Despendemos muito tempo, ao longo dos anos, falando de canção popular, de questões étnicas, de cinema, de literatura e artes, além de política, de trabalhismo e ainda de outros assuntos marcantes daquele período histórico. Volta e meia concedia entrevistas ou era convidada para proferir palestras, o que fazia muito enfaticamente, de um modo que sempre eletrizava as plateias.
Marilena não deixou uma grande obra escrita, pois escrever não era o que mais gostava, o que foi uma pena, já que sabia fazê-lo muito bem, e de maneira clara e com grande correção. Não chegou a editar a tese de doutorado, tão reveladora e inédita e, mais adiante, tão copiada e imitada. Insisti muito para que ela preparasse a edição da tese como livro, mas ela achava que havia empreendimentos mais estimulantes e importantes a lhe tomar o tempo. Para orgulho meu, vivia dizendo aos nossos conhecidos que fora eu que havia dado título à sua tese, “Um teto para os trabalhadores do Brasil”, pois antes, nas suas palavras, a tese tinha por título um extenso “manifesto”. Muitas vezes fizemos palestras conjuntas, mesas de debates e sessões de orientação de alunos. Numa dessas vezes, graças ao brilho e ao talento oratório de Marilena, na Faetec do Instituto de Educação, saímos sob demorada ovação, quando pude, outra vez, colher os frutos da fácil interação de minha querida colega com o público. Era sempre assim.
Na pós-graduação de história da UERJ, que ela ajudou a fundar, teve vários orientandos, que muito devem a ela sua formação profissional, aliás integral, pois as revisões escritas eram continuação das aulas e não dispensavam sequer as anotações laboriosas à margem, sempre a lápis, a indicar até as regras gramaticais. Foi a colega que mais esteve presente nas bancas de meus orientandos, porque era certo que ela viesse com alguma contribuição original, com tiradas inteligentes e profundas. Não lhe faltava também, nessas horas, o bom humor, muito útil no momento tão tenso dos exames de teses. E compunha as bancas competentemente, a par de uma gentileza sem medidas, porque ela amava os alunos como só pouquíssimos mestres sabem fazer.
Marilena não foi devotada apenas aos alunos, mas a todos que precisavam dela, a começar pelos familiares. Os irmãos mais novos tiveram nela um exemplo a ser seguido, estudando e trabalhando honestamente, e também abraçando as causas públicas, seja na política ou na educação. Foi uma filha dedicada que deu assistência à mãe, Dona Doca, até o último dia. D. Doca também era engajada nas causas de Marilena e amiga de seus amigos. Como não lembrar com emoção, quando telefonava tarde da noite para algo que sempre nos parecia importante, à procura de Marilena. D. Doca não aceitava as desculpas: “Que é isso, meu filho, aqui em casa meia noite é dia”. E, se assim era, deve-se dizer que as causas que Marilena abraçou eram feitas com ardor, defendendo algumas políticas públicas e se opondo a outras, fazendo campanhas eleitorais, pondo para cima a então minguante Anpuh, militando no “Tortura Nunca Mais”...
Fui o último colega de trabalho a estar com ela. Esteve em minha casa, antes de viajar para Minas, onde visitaria a amada sobrinha que criou e educou como uma filha. Estávamos sempre em contato, por telefone, no trabalho e nas visitas mútuas. As dela eram longuíssimas, tínhamos sempre a sensação de não ter conversado o suficiente, depois de dez ou doze horas de intenso “papo”. Sempre a recebíamos festivamente e dessa última vez também foi assim, embora faltasse o que ela chamava de “roda de carroça”, a pizza tamanho família, porque, na nossa idade, já começávamos evitar o que ela nomeava como “gordureba”. Estranhei que ela falasse tanto de doenças, embora aparentasse estar bem de saúde. Nessa última conversa, repassamos nossa vida, falamos dos anos na universidade, criticou as redes e “panelas” que infestam o ensino universitário, que procuram tirar o maior proveito pessoal possível. Em certo momento declarou que a universidade pública já estava quase toda privatizada “por dentro”, fisiologicamente, pelo seu próprio pessoal.
Esse derradeiro encontro foi, portanto, muito mais um balanço das derrotas do que um inventário das coisas boas que tivemos. Contava os dias para a aposentadoria, que deveria vir no mês de abril. Fazia planos para aproveitar bem os anos que lhe restariam. Combinamos que escreveríamos sobre a Faculdade Nacional de Filosofia do começo dos anos 60 e a crise que ali reinou durante o golpe militar. Fizemos uma lista de pessoas a entrevistar, enumeramos uma lista de itens a pesquisar, coisa para uns cinco ou mais anos. Quando Marilena voltou de Minas, foi a Saquarema para celebrar o aniversário de um sobrinho. Não se sentiu bem na sexta-feira, foi atendida em posto médico público, como costumava fazer quando ficava doente (“a medicina deve ser sempre pública”, dizia). Melhorou, voltou para casa e nada teve no fim de semana. Na segunda-feira estava lendo no quarto quando foram chamá-la para o almoço. Viram então que ela havia se encantado.
É com imensa tristeza que reajo à perda dessa amiga tão devotada. Mas, ao mesmo tempo, diante do inevitável, confesso a incomensurável gratidão por ter sido eu e minha família, por tantos anos, os amigos mais próximos de Marilena, de quem haveremos de guardar perene e respeitosa memória.
* Professor de História da UERJ
 O governo “DITO MILITAR”?
O governo “DITO MILITAR”?
Fritz Utzeri
“Vocês já foram muito mais longe do que poderiam imaginar, mas agora esbarraram num muro. O fato é que nós ganhamos a guerra e não pensem que poderão fazer um Nuremberg conosco”.
A conversa (da qual participaram também os jornalistas Heraldo Dias e Carlos Rangel) teve lugar há muitos anos, ainda no governo Geisel (o AI-5 valia), no modesto apartamento tijucano do general Adir Fiuza de Castro, ex-comandante do DOI-CODI e ligado ao grupo do general Sylvio Frota.
O assunto? Rubens Paiva, cujo desaparecimento após ser preso e torturado pela Aeronáutica do brigadeiro Burnier, transferido e novamente torturado e assassinado no sinistro quartel da PE da Rua Barão de Mesquita, onde funcionava o DOI-CODI, motivou longa conversa com o general, mais de 12 horas em duas noites, na qual ele historiava a repressão politica pelos militares e revelava detalhes surpreendentes, como o uso pelos torturadores de um manual verde de tortura do exército inglês usado contra os militantes e combatentes do IRA (o Exército Republicano Irlandês).
Algumas semanas antes da entrevista, o repórter Heraldo Dias e eu, após seis meses investigando o caso do desaparecimento do ex-deputado, havíamos publicado uma longa reportagem no Caderno Especial do JB, desmontando o IPM do Exército que o dava como desaparecido, após ser pretensamente sequestrado por “terroristas” quando era levado num fusca para averiguações. Mentira pura.
O “muro” ainda sólido
Fiuza disse, acertadamente, que esbarráramos “num muro” e limitei-me a responder quanto ao “Nuremberg” que não tínhamos poder de julgar e condenar por sermos apenas jornalistas, mas tínhamos a obrigação de tentar contar a história e nada mais. Desde então nada de realmente novo surgiu.
Os arquivos permanecem fechados e as Forças Armadas, embora a quase totalidade de seus quadros nada mais tenha a ver com os abusos do autoritarismo castrense, resistem ainda hoje em abrir esses arquivos e curar as feridas daqueles tempos, ao contrario do que alegaram em sua recente oposição à criação da Comissão da Verdade por decisão da presidente Dilma Rousseff (ela mesma presa e torturada pelos militares). Segundo nota do Exército, emitida terça-feira e apoiada pela Marinha e Aeronáutica, a Comissão “provocará tensões e sérias desavenças ao trazer fatos superados à nova discussão”, os militares acrescentam que isso “reabrirá uma ferida na amalgama nacional”, com o objetivo de “promover retaliações políticas”.
O Brasil é o único país do Cone Sul que passou por ditaduras militares e cujos crimes até hoje permanecem obscuros, apesar de inúmeras reportagens publicadas e de livros como “Brasil: tortura nunca mais” e vários outros publicados por vítimas do regime. Os principais responsáveis pelas ditaduras argentina e chilena estão presos, incluindo figuras como o general Jorge Videla, o almirante Emilio Massera e o general chileno Jorge Contreras, chefe da DINA, o equivalente ao nosso SNI (misturado com o DOI-CODI). O próprio Pinochet morreu em desgraça, processado pela Justiça chilena após permanecer preso na Inglaterra para onde viajara. Militares uruguaios estão presos e até o Paraguai abriu os arquivos da ditadura (antes da posse do atual presidente o ex-bispo Lugo), revelando detalhes da “Operação Condor”, a colaboração das ditaduras do Cone Sul com troca de prisioneiros, crimes e assassinatos de opositores até mesmo de militares como o ex-general legalista chileno Carlos Pratts assassinado em Buenos Aires, onde se refugiara após o golpe e o ex-chaceler chileno Orlando Letelier, asilado em Washington e morto por agentes da DINA a mando do ditador chileno.
As ditaduras, chilena, argentina, paraguaia e uruguaia foram responsáveis por cerca de 35 mil desaparecimentos e milhares de mortes. No Brasil a conta foi mais modesta, com cerca de 300 sumidos, entre os quais gente cuja oposição ao governo Militar se limitou a dar assistência financeira a alguns exilados, como foi o caso do ex-deputado Rubens Paiva, passando por dirigentes políticos como Orlando Bomfim e Mário Alves, até os que participaram da luta armada, como os guerrilheiros do Araguaia, a maioria barbaramente assassinada após captura e cujos corpos até hoje não foram entregues aos familiares.
“Nuremberg”
Na Argentina os militares perderam uma guerra insana contra os ingleses e Madame Thatcher – sem querer – prestou um enorme serviço à democracia. Para todos os efeitos eles perderam a guerra, mas o ditador chileno, Pinochet, saiu sem perder a sua guerra e manteve influência, o comando do Exército, e cargo de senador vitalício após deixar o governo e o Chile em boas condições macroeconômicas (com forte desenvolvimento e aumento da desigualdade, como o fez o regime militar brasileiro) e mesmo assim teve o seu “Nuremberg”.
No Brasil a Lei da Anistia não só impediu a punição dos torturadores e de seus comandantes, como fechou os arquivos e provavelmente levou à sua destruição.
Eu o constatei pessoalmente. Ainda na ditadura pude ver no DOPS o meu prontuário. Havia sido processado pela Aeronáutica, acusado de tentar dividir as Forças Armadas, porque editava, na Faculdade de Ciências Médicas, um pasquim mimeografado, semelhante ao Mont, Perspectivas, cujos únicos exemplares remanescentes descobri na Biblioteca do Congresso, em Washingtonalguns anos mais tarde (já contei a história no Mont).
Na ocasião exigia-se visto de saída para deixar o Brasil do “ame-o ou deixe-o” e esse visto era válido por seis meses. Ao pedi-lo pela enésima vez (era jornalista e precisava manter o passaporte em dia, pois vivia viajando) perguntei ao policial do DOPS o que teria que fazer para não ser mais obrigado a ir às auditorias militares e pedir as mesmas declarações de absolvição e nada consta de sempre. Ele trouxe meu dossiê, um volume alentado que começava com a seguinte expressão que li de cabeça para baixo: “O SUPRACITADO É SUSPEITO DE PERTENCER AO MOVIMENTO SUBVERSIVO “RESISTENCIA ARMADA NACIONAL”. De fato eu andara sendo sondado pela RAN e desisti de juntar-me à luta armada, entre outras coisas, porque apesar de ser de esquerda não me filiava a qualquer uma das dissidências comunistas que a pregavam (o “Partidão” optara pela luta política dentro do quadro democrático e eu, apesar de não ser filiado ao PCB, simpatizava e concordava com sua posição) e, além disso, rapidamente constatara que a RAN, ao contrário do que alegavam, era leviana e perigosa, apesar de seus militantes alardearem que havia células seguras e que um membro só conhecia e tinha contato com mais dois, o que impediria as quedas e limitaria os prejuízos.
Em poucos dias já conhecera pelo menos dez membros do movimento, incluindo o seu comandante, que traiu e entregou tudo. Não entrei, mas fui citado e ao ver a queda geral passamos, Liége e eu, a chegar em casa de madrugada temendo “os homens”. Para minha sorte inexplicavelmente não fui preso, apesar de não ser mais primário e ter sido processado pelos militares (embora absolvido). O que não sabia na ocasião é que Liège – minha mulher – percorrera igual caminho e quase entrava para a ALN. Nem eu contei a ela minha aventura. Foi a única vez que não compartilhamos um segredo.
Anos depois pedi meu processo no Arquivo Público, com base na Lei do Habeas Data e recebi uma pasta magra com alguns recortes de jornal e a relação dos indiciados no IPM da Faculdade de Ciências Médicas...
A Anistia foi mesmo geral e irrestrita?
O Brasil foi assim o único país onde os torturadores e seus superiores responsáveis ficaram impunes devido à anistia recíproca. A diferença é que os ditos subversivos pagaram pelo que fizeram com prisão, tortura, desaparecimento, exílio e banimento. Os torturadores não foram atingidos (salvo o caso de Henning Boilesen que acho, mereceu a execução). Os militares argentinos e chilenos também preparam a sua saída anistiando-se. No governo do peronista Carlos Menem foi promulgada a “Lei da Obediência Devida” que interrompeu processos contra militares torturadores e os generais ditadores. Devido à pressão de grupos de direitos humanos, como as Mães e Avós da Praça de Maio e à mobilização do povo argentino, a lei foi revogada e os militares condenados e presos. Videla está em regime de prisão perpétua.
O “governo dito militar” existiu?
O mais curioso é a expressão “Governo dito Militar”, usado pelos militares em sua nota de rejeição à Comissão da Verdade. A expressão pretende ressaltar uma coisa e esconder outra. A primeira parte procura demonstrar que o movimento de 64 teve respaldo civil, o que é verdadeiro. Naquela ocasião parte considerável da classe média e praticamente todo o empresariado industrial, rural e financeiro queria ver Jango pelas costas. Basta lembrar a Marcha com Deus Pela Família e o clima de alegria que tomou conta do Rio quando Jango e Brizola fugiram do Brasil.
Mas esse fato não foi característico do Brasil. No Chile o apoio da classe média e a organização e sabotagem dos setores empresariais contra o governo da Frente Popular foi muito maior, assim como a radicalização, resultando num golpe sangrento, matando Allende e iniciando uma ditadura cruel. Na Argentina não foi muito diferente. Cobri a crise e o golpe que afastou a presidente Isabelita Peron, que assumira a Casa Rosada após a morte do marido, Juan Peron. O descalabro era tal que todos queriam o golpe. Conversei com amigos de esquerda que, para meu espanto e irritação, desejavam a volta dos militares, com o pretexto e a esperança de “ordem e segurança”. Discuti e tentei convence-los a derrotar Isabelita nas eleições, mas parecia inútil. O resultado? A ditadura mais sangrenta da História da Argentina.
A segunda parte do enunciado, este mentiroso, procura convencer-nos de que os militares saíram de livre e espontânea vontade sem que o povo se tivesse manifestado ou lutado pela volta da democracia. Basta lembrar as várias derrotas eleitorais da ARENA (o partido que dava suporte aos militares) para o MDB, motivando sucessivas mudanças de regras eleitorais, casuísmos como o pacote de abril (vigente até hoje); os senadores biônicos; sucessivas cassações de mandatos (no Congresso, em governos estaduais, assembleias e até no STF); vetos a candidaturas; as Leis Falcão e Fleury; a cassação do Habeas Corpus; os atos institucionais com o fechamento do Congresso por ocasião do AI-5; a censura à imprensa; além das prisões, torturas, assassinatos e desaparecimentos, tudo impune.
A mobilização popular culminou com a campanha das Diretas Já, com a mobilização da classe operária, as greves do ABC, a Fundação do PT e de setores da classe média e da Igreja e de organizações como a OAB. Com o desgaste dos militares e a eleição indireta de Tancredo Neves, acabamos, com a morte deste, com José Sarney no poder até hoje...
Só concordo com os militares quando defendem que execuções ou “justiçamentos”, o assassinato a sangue frio de recruta prisioneiro pelo capitão Lamarca, atos terroristas como a Bomba no Aeroporto de Guararapes e a morte do soldado Mario Kosel Filho, quando montava guarda no quartel do Segundo Exército, também deveriam ser apurados e revelados, como o devem ser o “suicídio” de Vladimir Herzog , a morte de Manoel Fiel Filho, que levaram Geisel a começar a desmontar o “porão” e liquidar Sylvio Frota e o atentado ao Riocentro. Quem deu a ordem?
Continuo achando que não sou juiz, mas querendo contar e saber o causo como foi (como já o contaram em grande parte Elio Gaspari e outros jornalistas em livros memoráveis). Mas será que vamos, enfim, conhecer toda a verdade?
Perdoem-me, mas acho que o “muro” a que se referiu Fiuza continua existindo e é sólido. O mais grave é que até a ditadura chilena, sensivelmente mais cruel que a nossa, admitiu a culpa e pagou a conta num documento oficial intitulado: “Exército chileno: o fim de uma visão”, emitido 30 anos após o golpe pelo comandante-em-chefe do Exército, general Juan Emilio Cheyre, que anunciou: “O exército chileno tomou a decisão, difícil, mas irreversível, de assumir as responsabilidades que lhe cabem, enquanto instituição, nos acontecimentos puníveis e moralmente inaceitáveis do passado”, reconciliando os militares com a sociedade civil,
Afinal, o que ensinam nas academias aos futuros militares?
No Brasil, apesar dos militares alegarem em sua nota que a quase totalidade dos carrascos e mandantes estão mortos (o que não é verdade, embora estejam todos de pijama), o silêncio, a cumplicidade e a mancha que avilta a instituição militar são mantidos. O “ideário” da geração militar de 64 continua vivo nas Forças Armadas e gera uma preocupação sobre o que se ensina nas academias militares brasileiras.
Tive uma pequena amostra em outro caso do qual participei ativamente (sempre com o Heraldo): o Caso Riocentro. Após ser gravemente ferido na explosão do Puma onde estava com o sargento Guilherme Pereira do Rosário, preparando-se para cometer um atentado criminoso que poderia ter causado um massacre, com o objetivo de impedir a redemocratização do país, o capitão Wilson Pereira dos Santos foi absolvido num IPM fajuto montado pela cúpula militar, que delegou a farsa ao então coronel Job Lorena de Santana, promovido a general pela mentira que Heraldo e eu no JB e o repórter Antero Luz, no Estadão, desmontáramos (o AI-5 já não valia).
Constatei 15 anos depois, dessa vez na TV Globo, num Globo Repórter memorável quando o programa não se reduzia ainda a bichinhos e dietas (junto com outro jornalista admirável e corajoso, Caco Barcelos), que o capitão, agora coronel era professor do Colégio Militar em Brasília, mantinha o silêncio e fugiu em marcha a ré quando o abordamos...
Com professores terroristas e até alguns admiradores de Adolf Hitler dando aulas em academias militares repito a pergunta: O que ensinam a nossos futuros oficiais, quando não os matam em instruções irracionais como o fizeram com o cadete Lapoente (outro caso que acompanhei de perto) na AMAN e em outros lugares de instrução militar?
Desse jeito esse “muro”, ao contrário do Muro de Berlim, vai continuar de pé, apesar do empenho da presidente. No Brasil isso não é novidade. Cultivamos a lenda do país harmônico; nossa História passa voando pelos movimentos populares; lutamos a guerra do Paraguai com “justiça e magnanimidade”, apesar de termos levado aquele país à poligamia por praticamente não restarem homens adultos quando terminou o massacre denunciado pelo próprio Caxias; queimamos, por ordem de Rui Barbosa, então Ministro da Justiça, os arquivos da escravidão para esconder as barbaridades e grande parte da História se perdeu. Fomos o último país ocidental a abolir o cativeiro e no Hino da República dizemos que “nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em tão nobre país” (os escravos foram simplesmente abandonados à própria sorte, e isso repercute até hoje em nossa sociedade, ressaltando outra mentira do hino: “Somos todos iguais, ao futuro”.
Não custa nada repetir, trocando escravos por “torturas”...
Fritz Utzeri, médico e jornalista,
foi diretor de redação do Jornal do Brasil,
redator de O Globo,
correspondente internacional em Nova York e Londres,
colaborador do Pasquim e
edita atualmente o Montblaat, jornal distribuido via e-mail.
MONTBLÄAT 383, Ano 6, 12 de março de 2011.
 VIM BUSCAR A SUA ALMA!
VIM BUSCAR A SUA ALMA!
Tomás Ramos

São inúmeras as razões pelas quais certos métodos de controle são adotados ou rejeitados em uma dada situação. Fala-se muito dos grandes escândalos hediondos que suscitam revoltas midiáticas, das famosas batalhas parlamentares em torno dos projetos de reforma penal, das mudanças estruturais nas teorias do crime e da violência, das novas justificações morais de exercício do poder. Entre tantas possíveis explicações, porém, atenho-me a esse acontecimento recente que parece marcar, de forma singular, uma certa transformação nos jogos de poder e uma mudança de intensidade nas práticas de controle: o surgimento do Caveirão.
De longe, o Caveirão não parece muito diferente dos carros blindados que circulam pela cidade transportando dinheiro de banco em banco. Embora pese cerca de oito toneladas, o blindado pode alcançar velocidades de até 120km/h e tem capacidade para levar 11 policiais. No interior do veículo, um amplo vão permite a um policial ficar de pé entre as duas portas laterais para utilizar a torre de tiro. Repleta de pequenas aberturas, a torre permite aos policiais dispararem em qualquer direção, ganhando uma vantagem de 360 graus sobre o “território de combate”. Ao lado do motorista, um policial segue armado para repelir ataques frontais. Um banco com assentos para oito pessoas atravessa a parte traseira do carro pelo centro, na vertical. Quatro lugares virados para a esquerda e quatro para a direita. Nas paredes laterais, o veículo dispõe de mais de vinte pequenas cavidades onde os agentes podem colocar os canos de suas armas para tiros estratégicos. As “seteiras”, porém, apenas permitem que os policiais movam suas armas cerca de 50 graus para cima e para baixo, o que dificulta muito a mira dos tiros. Mas como o veículo é apenas utilizado nas “zonas de risco” dos morros cariocas, os possíveis erros de alvo são calculados como meros danos colaterais, ou melhor, externalidades da “guerra” declarada “em defesa da sociedade”. Equipado de alto-falantes, o veículo é totalmente preto e provido de vidros na cor fumê para permitir o total anonimato dos agentes que o utilizam. Como toque de mestre final, tais blindados são marcados pelos macabros símbolos oficiais dos grupos policiais e, no início, também eram decorados com desenhos especialmente estilizados para aterrorizar os “inimigos” do Estado.
Embora não tenha armas acopladas à sua maquinaria, o que permite para alguns defini-lo como um “veículo civil”, o Caveirão é um automóvel militar de combate. Não funciona como um camburão ou uma ambulância. Não foi forjado para transportar pessoas presas em flagrante. Também não carrega nenhum tipo de equipamento para socorrer feridos. Seu papel é outro. E este exprime todo um acúmulo de experiências militares de policiamento urbano que o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) da Polícia Militar aglutinou durante anos de operações nas favelas cariocas.
O objetivo principal do Caveirão é conseguir transportar policiais durante conflitos armados até os pontos estratégicos de confronto, além de abrir passagem para outros agentes a pé e garantir a retaguarda do restante da tropa. Trata-se de um equipamento de proteção de soldados treinados para “subir a favela e deixar corpos no chão” , como prega um dos mantras que os policiais do Bope cantam em seus treinamentos. Conforme explica o atual comandante geral da Polícia Militar, Mário Sérgio de Brito Duarte, no seu livro sobre a tropa de elite: “(...) no COE [antiga sigla do Bope] todo mundo tinha uma raça só: todos eram de Caça” 2. Não deve haver dúvidas. O Caveirão é um aparelho “de Caça”. Sua existência só pode ser compreendida no âmbito desse contexto que ele traduz à perfeição – é preciso “eliminar o inimigo”, mas eliminar garantindo a segurança dos “agentes da ordem” durante suas incursões no “teatro de operações”.
Antes empregado apenas pelo BOPE, o veículo blindado rapidamente se expandiu pelas demais agências policiais do estado. Hoje o Caveirão também vem sendo utilizado por diversos batalhões da Polícia Militar (22º, 16º e 9º, entre outros) e pela Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, na qual é conhecido como “Pacificador” – o que permite que os moradores das favelas o chamem de “passa e fica a dor”. Mais do que um objeto de desejo, o Caveirão se tornou um símbolo de status entre as polícias do Rio de Janeiro.
No início, a posição oficial era a favor do emprego do veículo apenas em momentos “especiais” e “de exceção”. Porém, só no ano de 2007, o Bope chegou a realizar 2.200 horas de operação com o uso de ao menos um blindado. Ou seja, uma “média de mais de seis horas de Caveirão por dia, todos os dias do ano” 3. A própria maquinaria do Caveirão não foi pensada para aguentar tanto. Uma sequência de quebras dos veículos durante operações naquele ano forçou o Bope a organizar uma equipe de auxílio técnico, composta de quatro homens, para seguir os blindados durante as incursões. Se o equipamento não acompanha o crescente ritmo das operações, cria-se uma espécie de “baby-sitter móvel” 4 – toda uma engenharia para manter o Caveirão o máximo de tempo possível subindo e descendo os morros das favelas cariocas.
Mais do que um sintoma, o Caveirão é a própria encarnação de um tipo de governamentalidade, de uma espécie de agenciamento constituído por uma rede de quadros institucionais, tecnologias, ritos, fórmulas, cálculos e terminologias. Concebido na onda da crescente militarização que vem caracterizando as estratégias gerais de nosso modo de viver, a figura do Caveirão parece indicar como a gestão da população fluminense, na configuração sócioespacial do Rio de Janeiro, está relacionada a um conjunto de saberes específicos e corresponde a uma sociedade atravessada por determinados tipos de dispositivos e esquemas de controle. Neste sentido, a frase que a distorcida voz anônima do veículo urra pelos alto-falantes quando adentra os labirintos das favelas cariocas – “Vim buscar a sua alma!” – serve como um sinal revelador de nossa política contemporânea de gestão militar da pobreza urbana.
As tecnologias nunca são simples próteses. Para além de suas funções formais e imediatas, as ferramentas são formadoras de virtualidades, geram efeitos de realidade, criam mundos específicos nos quais nos tornamos o que somos. Se toda invenção assinala o despertar de um novo anseio, todo instrumento indica uma espécie de programação.
Já foi dito que não é difícil fazer corresponder a cada sociedade certos tipos de máquinas 5; a cada esquema de vida, uma parafernália; a cada regime de poder, um agenciamento estratégico. As velhas sociedades monárquicas operavam com orgulho seus aparelhos de tortura nas grandiosas cerimônias dos suplícios. As antigas sociedades industriais tinham nas torres de vigilância da prisão a chave de leitura para seus rituais de disciplina. No início do século XXI, o Caveirão, como forma material e ao mesmo tempo simbólica de um certo estilo de poder, parece exprimir melhor do que qualquer outro dispositivo a real dinâmica da cidade do Rio de Janeiro que hoje, mais do que nunca, é celebrada como cenário das grandes telenovelas nacionais e palco dos mais importantes eventos internacionais.
Longe de ser apenas um veículo moderno ou um personagem onírico, o Caveirão é um exemplo vivo das inovações de uma época – uma chave para compreender as novas modalidades de poder. Mesmo com menos de uma década de existência, parece que o Caveirão já tomou o seu lugar no espírito carioca. Sua política é algo maior do que o simples resultado das investidas estatais para militarizar os espaços urbanos populares. Existe toda uma vontade de sujeição que mobiliza a vida carioca, toda uma vocação da cidade. O Caveirão é um indício de uma postura, de uma certa subjetivação. Sinaliza uma luta. Marca um devir.
Os aparelhos não são fenômenos isolados, que obedecem apenas a suas próprias leis, mas dispositivos integrados a algum regime social. Compartilham suas aspirações e seus defeitos. Funcionam em seus agenciamentos. Nos últimos anos, assim como aconteceu em outro plano com os computadores e os celulares, a experiência histórica do Caveirão parece conseguir apontar caminhos para uma possível leitura das novas afinidades estabelecidas entre as dinâmicas da divisão social do trabalho, os contornos institucionais das agências políticas e as características gerais das estratégias de controle. A vida mudou. As lutas se dão em novos termos. Os arranjos civilizatórios são outros. A “Era Caveirão” está apenas começando.
Texto inspirado na dissertação de mestrado intitulada “‘Vim buscar a sua alma’ - a governamentalidade da
política Caveirão” que foi aprovada no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da UFF em fevereiro de 2011.
Expressão retirada de um dos cânticos do BOPE: “Homens de preto, qual é a sua missão? Subir a favela para deixar corpo no chão! Homens de preto, o que é que você faz? Eu faço coisas que assustam o satanás”.
DUARTE, Mário Sérgio. Incursionando no Inferno – A Verdade da Tropa. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda., 2007, p. 82.
TARDÁGUILA, Cristina. Dentro do Caveirão. Piauí 19, Rio de Janeiro, ano 2, abr. 2008, p. 24.
DELEUZE, Gilles. Conversações – 1972-1990. Trad. Peter Pál Pelbart. 5. ed. São Paulo: Editora 34, 2006, p. 223.
Tomás Ramos
Advogado, pós-graduado em Filosofia Contemporânea pela PUC/RJ,
mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFF,
assessor parlamentar do deputado estadual Marcelo Freixo (PSOL)